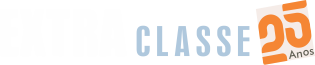“A construção do Império é um passo à frente para se desembaraçar de toda nostalgia com relação às velhas estruturas de poder que o precederam, e para recusar toda estratégia política que implique o retorno aos velhos dispositivos de poder, como seria o caso dos que se propõem a ressuscitar o estado-nação, para se proteger contra o capital mundial.”
“A construção do Império é um passo à frente para se desembaraçar de toda nostalgia com relação às velhas estruturas de poder que o precederam, e para recusar toda estratégia política que implique o retorno aos velhos dispositivos de poder, como seria o caso dos que se propõem a ressuscitar o estado-nação, para se proteger contra o capital mundial.”
Antonio Negri e Michael Hardt, Empire, 2000, pg. 73
As vezes, parece que as idéias ficam congeladas e esquecidas por longos períodos, e depois reaparecem, de tempos em tempos, quase idênticas, como se o mundo não tivesse mudado, ou como se os intelectuais tivessem perdido a sua imaginação ou sua inventividade. Já faz mais de um século que Eduard Bernstein e Karl Kautsky discutiram e divergiram com respeito à possibilidade ou não de “humanizar” o colonialismo europeu, numa perspectiva progressista e social-democrata de libertação e civilização dos “povos selvagens”. Como dizia Bernstein, “as culturas mais elevadas também têm o direito mais elevado”, e, por isso, parecia-lhe perfeitamente normal a defesa social-democrata de um novo tipo de imperialismo que tivesse uma “face humana”, o que ele chamava de “colonialismo positivo”. Bernstein, assim como Van Kol – e todos aqueles chamados “revisionistas” –, consideravam uma posição reacionária, que ia contra o progresso histórico, o rechaço indiscriminado de todo e qualquer tipo de imperialismo. Para defender sua posição, apoiavam-se no próprio Marx, no seu elogio do caráter revolucionário da expansão mundial do modo de produção burguês e na sua visão do papel ambíguo da dominação colonial inglesa, vista como uma força destrutiva, mas também como um fator de modernização das sociedades atrasadas ou submetidas ao modo de produção asiático.
Um pouco mais à frente, logo no início do século XX, Rosa de Luxemburgo e Vladimir Lênin também discordaram entre si, ao discutirem sobre a importância da luta pela “autodeterminação” dos povos, na estratégia mais ampla, e de mais longo prazo, do internacionalismo socialista. A Internacional Socialista, em 1896 e a social-democracia russa, em 1903, haviam consagrado em seus programas o direito universal à autodeterminação das nações. Mas Rosa de Luxemburgo, Karl Rádek, Joseph Strasser e vários outros membros da chamada “oposição de esquerda radical”, minoritária dentro da Internacional, negaram-se a reconhecer esse direito dos povos, vendo, na autonomia das nações, um movimento que se colocava na contra-mão do internacionalismo proletário. Segundo a “esquerda radical” do início do século XX, a época dos movimentos nacionais havia terminado, e os problemas políticos e econômicos das nações oprimidas já não tinham mais soluções nacionais e só poderiam ser resgatados através das lutas internacionais do proletariado. Os olhos de Rosa de Luxemburgo estavam fixados na Europa Central e nas suas lutas nacionalistas, em particular no caso da Polônia que havia desaparecido como estado independente na segunda metade do século XVIII. Mas seu argumento ia muito além da Europa Central, ao sustentar que a forma própria de poder criada pelo capitalismo não seria mais o estado nacional, e sim um “estado supranacional”. O processo de centralização do poder estatal abarcaria um número cada vez maior de nações, e não deveria ser combatido pelos progressistas, pelo contrário, deveria ser aceito e defendido como uma forma de organização do poder superior a do estado nacional, superado pelo progresso tecnológico e industrial da era imperialista.
Em 1915, o social-democrata russo, Nicolai Bukarin, chegaria a uma conclusão parecida, na sua teoria sobre a “economia mundial e o imperialismo”. O foco de sua análise era diferente da “esquerda radical”, porque ele estava estudando o movimento de expansão do sistema econômico capitalista, e não do poder estatal, mas ele também concluía que a centralização do capital financeiro apontava na direção de um “império universal”. Esse movimento contínuo de internacionalização seria contrariado “por uma forte tendência simultânea à nacionalização do capital e ao fechamento das fronteiras”, mas a longo prazo Bukarin achava que a tendência à internacionalização acabaria predominando “depois de um longo período de luta cruel entre os trustes capitalistas nacionais”. Como Bukarin não inclui em seu raciocínio a dimensão política e estatal do capitalismo, não consegue explicar muito bem a “reação nacionalista” dos capitais, nem tampouco consegue defender, de forma convincente, sua tese de que a internacionalização do capital acabará eliminando as unidades nacionais do sistema. Pelo mesmo motivo, ele não reconhece nem discute a importância, dentro do sistema mundial, de estados e de unidades nacionais hierarquizados e diferentes entre si, do ponto de vista de sua soberania e de seu potencial econômico – um ponto importante na argumentação de Lênin a favor da autodeterminação política e econômica de algumas nações. Ao contrário de Bukarin, Lênin distinguia três blocos de países, com distintas perspectivas, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e de sua revolução social: a) os países capitalistas avançados; b) os países do leste europeu; c) e, finalmente, os países semicoloniais, como China, Pérsia e Turquia. Essa classificação teria de ser ampliada, evidentemente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se multiplicou o número dos estados nacionais independentes existentes no mundo.
Hoje, no início do século XXI, tem-se a impressão muitas vezes de que esse debate da esquerda segue no mesmo lugar e mergulhado nas mesmas questões. Em claves um pouco diferentes, Immanuel Wallerstein e Antonio Negri têm repetido, nos últimos anos, quase as mesmas teses e argumentos defendidos por Rosa de Luxemburgo em 1908, e defendendo, como ela, que chegou a hora do fim das lutas e dos desenvolvimentos nacionais. Rosa de Luxemburgo falava de um “estado supranacional”, na era imperialista, e Negri fala de um Império pós-nacional, na era da globalização econômica. E todos consideram superada, e inútil, a luta política pelo controle do poder dos estados nacionais.
Mas uma vez, como há um século, não se discutem a natureza e o funcionamento hierárquico desse “poder global”, nem se tomam em conta as diferenças gigantescas existentes entre os vários países e economias nacionais espalhadas pelo mundo. Novamente, como há um século atrás, essa “nova esquerda radical” não vê: a) que o processo de internacionalização ou globalização do capitalismo, a partir do século XVII, não foi uma obra do “capital em geral”, mas de estados e de economias nacionais que tentaram ou conseguiram impor ao resto do sistema mundial o seu poder soberano, a sua moeda, a sua “dívida pública” e seu sistema de “tributação” como lastros de um sistema monetário internacional transformado no espaço privilegiado de expansão do seu capital financeiro nacional; b) que não existe um estado ou império que absorve e dissolve os estados nacionais, e sim um estado nacional mais poderoso que se impõe aos demais durante um determinado período e com isso, impõe seus interesses nacionais ao resto do mundo; c) que existem dezenas, ou mais de uma centena, de estados nacionais que não têm soberania real, nem tampouco a possibilidade de um desenvolvimento econômico nacional, mas que, ao mesmo tempo, existe um grupo bem menor de países, que, graças às suas dimensões, às suas relações internas e às suas conexões internacionais, não tem outro caminho senão andar com seus próprios pés.
É preciso olhar com um pouco mais de atenção para o próprio processo de internacionalização do capital e de centralização do poder global. Os dois processos deram um passo enorme depois da generalização do padrão ouro e da desregulação financeira, promovida pela Inglaterra, na década de 1870, e um outro passo gigantesco depois da generalização do padrão “dólar-flexível” e da desregulação financeira, promovida pelos Estados Unidos, na década de 1970. O interessante é que foi justamente nesses dois períodos de centralização acelerada do capital e do poder em escala mundial que alguns países mais atrasados conseguiram acelerar seu crescimento, ascendendo na escala do poder e da riqueza mundial. Esse foi o caso, por exemplo, dos EUA, da Alemanha e do Japão na segunda metade do século XIX e dos países do leste asiático nas últimas décadas do século XX.
No início do século XXI, o que está globalizado, sob nosso ponto de vista, é o poder político-militar, a moeda, a dívida pública e a capacidade de tributação dos Estados Unidos, e não o poder, a moeda, a dívida e a capacidade de tributação de uma vago império supra-nacional, quase metafísico. Ao mesmo tempo, segue existindo um grupo de países, em que o recorte nacional permanece decisivo do ponto de vista das lutas sociais e do desenvolvimento econômico. E não resta dúvida de que o Brasil faz parte desse grupo de países que terá de se ver com suas próprias pernas.