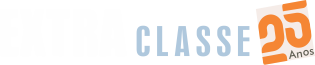Foto de Tânia Meinerz Foto de Tânia Meinerz
Está em andamento um novo e perigoso processo de terceirização: o das crianças e dos adolescentes. Pais sem tempo ou capacidade de cuidar de seus filhos transferem para o colégio toda a responsabilidade de sociabilização dos jovens. Por outro lado, às vezes sobrecarregados por essa tarefa a mais, alguns professores e diretores tendem a encaminhar os “alunos-problemas” para os médicos, acreditando que situações-limite na sala de aula possam ser resolvidas com medicamentos.
A “reencaminhamentoterapia” pode ter efeitos desastrosos se pais e educadores não se sentarem juntos para discutir as causas por trás do aumento do uso de remédios pelos estudantes nas escolas.
Na lista dos medicamentos que ganharam projeção nos últimos anos, a Ritalina é a mais conhecida. Nome popular de uma substância chamada metilfenidato (estimulante do grupo das an-fetaminas), é indicada para os casos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), distúrbio que se caracteriza por alterações nos sistemas motores, perceptivos, cognitivos e de comportamento que comprometem a aprendizagem de algumas crianças. Elas ficam agitadas, têm problema de concentração e organização, temperamento explosivo e interferem nas atividades dos outros. Esse medicamento atua nos neurotransmissores (substâncias químicas que passam informação de uma célula nervosa para outra).
Nas escolas, a presença da medicalização é mais visível desde o final da década de 90, quando se começou a detectar uma quantidade absurda de hiperativos diagnosticados por psicólogos, psiquiatras e neurologistas. Durante o tratamento, essas crianças eram medicadas. O resultado foi uma geração de alunos aparentemente mais tranqüilos, mas com prejuízos na parte de relacionamento porque, conforme constataram as pesquisas, nem sempre os diagnósticos estavam corretos.
Um estudo feito em 1993 pela neuropediatra Ana Guardiola com uma amostra aleatória representativa de 484 crianças do total de 35.521 alunos das 1as séries de Porto Alegre – sendo 310 da rede estadual, 58 da rede municipal e 116 da rede particular de ensino – indicou que a prevalência de TDAH variava de acordo com diferentes critérios de avaliação. Os exames mais detalhados, seguindo os critérios neuropsicológicos, mostraram que apenas 3,5% a 3,9% apresentavam o distúrbio. “O transtorno é muitas vezes mal diagnosticado. A maioria das crianças precisa apenas de um manejo psicopedagógico, não de remédio”, constatou Ana.
Entre 2003 e 2005, o Centro de Orientação ao Escolar (COE), vinculado ao Hospital da Criança Santo Antônio da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, avaliou cerca de 200 crianças. Destas, 77% vinham com um diagnóstico prévio ou com suspeita de TDAH. Depois de uma série de exames criteriosa feita por uma equipe interdisciplinar (psicólogos, psiquiatra, neuropediatra, fonoau-diólogo, psicopedagogo), o grupo constatou que apenas 9% tinham efetivamente TDAH e 8% apresentavam outros problemas orgânicos ou mentais. Os 83% restantes apresentavam problemas no funcionamento familiar e foram encaminhados para a psi-coterapia familiar ou individual, conforme o caso.
Visão global é o mais importante
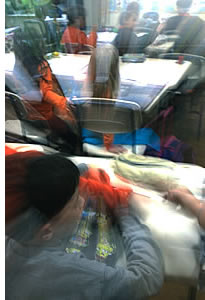
Foto de Tânia Meinerz
Foto de Tânia Meinerz
O uso indiscriminado de remédios eventualmente mascara a verdadeira causa da agitação.
A neurologista e neurofisiologista Elnora de Paiva Ayres, diretora do COE, explica que, se o diagnóstico estiver equivocado, há a possibilidade de a criança tentar chamar a atenção de outras formas, porque seu pedido de socorro não foi ouvido. “Bater no colega é um distúrbio de conduta leve que, se não for tratado adequadamente, evolui para problemas mais sérios, até para a delinqüência”, avisa Schmidt.

Foto de Tânia Meinerz
Foto de Tânia Meinerz
Medicalização reforça preconceitos
A questão da medicalização também é preocupante porque tem sido usada para reforçar preconceitos, salienta a médica e professora Maria Aparecida Affonso Moysés, titular de Pediatria Social na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em São Paulo. Isso acontece quando, em vez de se considerar como causa do fracasso do sistema escolar brasileiro os problemas de ordem social, política e econômica, se atribui como causa as pretensas doenças que impediriam as crianças de aprender. “Quando se diz, por exemplo, que uma criança não aprende porque ela tem uma disfunção neurológica, você está frente a um processo de medicalização e justifica como tendo soluções no campo da Medicina, do mesmo modo quando diz que uma criança não aprende porque está desnutrida.”
A conseqüência é que, se o professor acredita que a criança não aprende porque ela tem um problema que a impede de aprender, ele não vai investir numa avaliação do próprio processo de ensino-aprendizagem, nem na criança para que ela tenha acesso a um ensino adequado. “Vai acreditar que não tem nada a fazer, e, portanto, a criança não vai aprender mesmo”, observa Maria Aparecida. Além do fato de serem efetivamente privados do aprendizado, a maior parte dos alunos introjeta a doença e passa a acreditar que é incompetente e incapaz. Mas, nestes casos, insiste Maria Aparecida, o fracasso não é da criança, é do sistema político e pedagógico brasileiro do qual o professor também é vítima, porque é mal pago, sem tempo para preparar a aula. A recuperação destes jovens é difícil porque eles são estigmatizados e excluídos de forma violenta e cruel.
Maria Aparecida publicou dois livros sobre o tema: Preconceitos no cotidiano escolar – Ensino e medicalização (Editora Cortez, 1996), junto com a professora Cecília Collares, e A institucionalização invisível – Crianças que não aprendem na escola (Mercado de Letras/Fapesp, 2001). Desde então, pouca coisa mudou. “A situação é assim não porque as autoridades desconheçam, mas porque há uma opção política dos governantes”, acredita. E a saída, a seu ver, “é investir na formação dos professores, em profissionais que acreditem ser capazes de ensinar qualquer criança, porque toda criança é capaz de aprender”.
A causa pode estar na família
Descartado o diagnóstico de TDAH ou de outras doenças, um aluno pode estar desatento na sala de aula por inúmeros motivos, como um momento de depressão na família pela separação dos pais, brigas, medo de perder o afeto da mãe porque nasceu um irmão, ou porque está excitada com muitas mudanças. Às vezes, esses estudantes considerados “hiperativos” são apenas resultado de uma família desorganizada, sem rotina, em que o filho não tem hábito de estudo, nem horário para dormir. E é aí que aparece a tentação da “terceirização”. O teólogo e professor Omero de Freitas Borges Júnior, diretor do colégio La Salle Santo Antônio, em Porto Alegre, lembra que se começa a falar novamente nos esquemas de internato. Muitas escolas já ampliaram seus turnos para o tempo integral porque os pais não têm onde deixar seus filhos. Jovens de três a 10 anos passam das 7h30min às 19h dentro dos colégios.

Foto: Tânia Meinerz
Foto: Tânia Meinerz
Esse é um dos lados da questão. O outro é que, o que antes se chamava de “manha”, hoje aparece na sala de aula na falta de limite com os colegas, no “não-compartilhar”. Borges explica: “A gente tem alunos que aos 10 anos discutem como adultos com a lógica do ‘é meu, eu quero, eu posso, eu faço’”. É o resultado, acredita, de uma sociedade de transgressões, individualista, hedonista e egocêntrica, em que há uma tendência a dar invisibilidade ao outro de forma cada vez mais precoce.
Em 2004, foram avaliados 30 alunos de uma turma de 5ª série do La Salle Santo Antônio em que nove haviam sido diagnosticados como hiperativos. Posteriormente, só três casos foram confirmados. “O que havia era a ausência de um adulto para dar limites – o menino não era hiperativo, mas mal-educado”, concluiu Borges. É o filho de casais que geralmente têm sentimento de culpa por não estarem muito tempo com a criança e tentam compensar suprindo todas as suas vontades. Nem sempre os pais recebem bem a notícia de que o problema não é com os filhos, mas com a educação que dão em casa. Especialmente nas escolas particulares, é comum os profissionais do Serviço de Orientação Educacional ouvirem dos pais o discurso do tipo: “Eu pago o seu salário, eu mando”.
SERVIÇO
O Centro de Orientação ao Escolar (COE) é formado por uma equipe interdisciplinar que avalia e diagnostica crianças e adolescentes com transtornos de desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem. É vinculado ao Hospital da Criança Santo Antônio, da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Mais informações no site www.coers.com.br ou pelos telefones (51) 3214.8000 e 3214.8745

Fotos: Tânia Meinerz
Fotos: Tânia Meinerz
O marketing por trás do diagnóstico

Arte de Claudete Sieber
Arte de Claudete Sieber
Esta talvez seja uma das razões por que a chamada “droga da obediência”, a Ritalina – medicamento mais conhecido do grupo dos metilfenidatos, indicada para TDAH – apresentou um crescimento de vendas de 940% no país entre os anos 2000 e 2004, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos (Idum). Os cálculos do Idum se basearam nos números do Instituto Suíço de Pesquisa de Medicamentos, grupo que contabiliza os dados do mercado farmacêutico mundial. Em 2000, no Brasil foram vendidas 71 mil caixas e, em 2004, 739 mil.
Sabemos que existe uma ação forte dos laboratórios sobre os médicos e a nossa pesquisa parece mostrar isso, porque não tem sentido um aumento de venda tão alto de um dia para o outro”, analisa o farmacêutico Antônio Barbosa, coordenador do Idum.
Terapia tamanha família
O jornalista Chico Noronha, 44 anos, custou um pouco a aceitar que seu filho poderia estar com problemas no colégio. Separado da mulher, costumava ficar com a menina mais velha e o caçula somente nos fins de semana. Não tinha tempo para ver a agressividade latente, pois trabalhava 12 horas diariamente. Até o momento em que os dois foram morar com ele, e Chico passou a freqüentar as reuniões de pais. Quando uma psicóloga lhe chamou a atenção pela primeira vez que a garota, então com cinco anos de idade, e o pequeno, com apenas quatro, andavam meio agressivos e sugeriu procurar ajuda, a primeira reação de Chico foi de incredulidade. “Terapia para os meus filhos? Tá louca?”, pensou.
Um ano depois, a situação piorou e o casal e os filhos começaram a terapia intensiva que durou em torno de dois meses. O problema, constataram, era a falta da mãe, que passou a fazer visitas mais freqüentes às crianças. A vida parecia ter voltado ao normal, mas, em novembro de 2005, Chico foi chamado novamente à escola. O caçula andava agredindo os colegas. Do jeito que estava, ninguém ia querer mais convidá-lo para as festas, os amiguinhos já evitavam ficar perto dele. Até na professora ele bateu. Chegara ao limite, ameaçado de não passar para a 1ª série.
Foto: Tânia Meinerz
Foto: Tânia Meinerz
Chico e o filho retomaram a terapia. Na dúvida se o problema era a separação dos pais ou algo mais grave, levou o garoto a um neurologista, já que os sintomas pareciam com os de TDAH, ainda que o terapeuta apostasse que o problema era emocional. Como os exames neurológicos não mostraram alteração, o neurologista receitou apenas um medicamento para que o menino ficasse mais concentrado, e o tratamento foi mantido por dois a três meses. Nesse período, Chico reorganizou sua vida: reservou as manhãs para ficar com os filhos, agora almoça com eles e os leva para a escola.
Os resultados não demoraram a aparecer. Orgulhoso, Chico conta como o filho voltou a se interessar pelas coisas, foi “promovido” à 1ª série e, mesmo com um mês de atraso em relação aos demais da turma, está praticamente no mesmo nível dos colegas. Hoje ele agradece à escola o alerta que lhe fizeram e que permitiu uma intervenção num momento crucial. “O encaminhamento certo é o que conta”, avisa.
Remédio para doença errada
A menina L., hoje com 10 anos, rodou na 3º série e perdeu o ano. Tomou remédios sem ter necessidade. E podia ter perdido muito mais se não fosse a obstinação da mãe, a empresária S.S., 47 anos, que ousou interromper os medicamentos indicados para tratar o déficit de atenção da filha e resolveu procurar outros especialistas. Para evitar a estig-matização de L., a mãe preferiu não se identificar.
Ninguém entendia por que a jovem se esforçava tanto em casa para estudar e não ia bem nas provas. Logo que L. começou a apresentar os primeiros problemas, a mãe a levou a um psicopedagogo, que encaminhou o caso para o neurologista. O exame constatou uma pequena alteração. Um segundo médico confirmou o diagnóstico e receitou Ritalina e um anticonvulsivante chamado Depakene.
S. relutou durante quatro meses em dar o remédio, afinal a garota tinha apenas oito anos de idade – temia que os medicamentos pudessem provocar outras alterações. “Em casa, nunca dávamos nem uma aspirina se não tivesse indicação médica”, conta. O problema, segundo constataram os médicos, era déficit de atenção, e não hiperatividade, porque a menina brincava normalmente com as outras crianças, não era agressiva.
Mesmo com os remédios, L. não conseguia fixar a atenção. A empresária resolveu buscar a avaliação de uma equipe interdis-ciplinar que diagnosticou dislexia, um distúrbio de leitura e escrita caracterizado pela dificuldade em decodificar e compreender palavras escritas.
“Foi um choque”, lembra S. “No dia em que soube, chorei muito – chorei porque ela foi medicada e não se percebeu o problema antes, e porque a gente cobrou dela por não conseguir fazer as tarefas nem copiar as coisas direito”. Identificado o problema, mudaram as cobranças, o medicamento e a postura, tanto em casa quanto na escola. No colégio, os professores estão buscando novas formas de trabalhar com a aluna. Hoje S. sabe que a dislexia provoca dificuldades de organização e que é preciso uma ajuda extra dos adultos. Além da atenção de uma doutora em educação especial na escola, a menina conta agora com uma fonoaudióloga e uma psicope-dagoga.
O consolo de S. é que ela nunca desistiu de buscar o real diagnóstico da filha. Aos pais que têm dúvidas, ela dá o mesmo conselho que recebeu da professora, quando duvidou do primeiro tratamento indicado pelo neurologista: “O médico pode ser até super graduado, mas, se não está satisfeita, procure outro”.
Superando a culpa
Desde muito pequeno, Enzo podia ser considerado uma criança “arteira”. Começou a caminhar com oito meses, com um ano já corria pela casa. Aos três anos e meio, no entanto, a mãe, Candice Muniz, notou que havia algo errado com o filho. Ele não conseguia ficar muito tempo sentado para assistir a um desenho na televisão, nem esperava os joguinhos terminarem para fazer outra coisa. Na escola, dava tapas e empurrões nos colegas. “A psicóloga do colégio dizia que eu estava me preocupando com bobagem, mas comecei a investigar”, lembra Candice. Na época, hiperatividade ainda era um palavrão para ela, talvez uma pista da razão do comportamento dispersivo do menino.
Um amigo lhe recomendou um psiquiatra que fez o diagnóstico: TDAH, com indicação para tomar Ritalina. O remédio fez o garoto ficar mais quieto, parado. Preocupados, os familiares que eram médicos recomendavam que ela procurasse outro especialista, porque tomar medicamento nessa faixa etária podia ser perigoso, afinal Enzo não estava ainda com o cérebro formado. E ela foi à luta. Buscou na internet e também ouviu outros médicos, até chegar à equipe interdisciplinar do COE. Enzo passou por uma bateria de testes, e os especialistas foram unânimes: ele tinha problemas, sim, mas não eram hiperatividade. Passava por dificuldades emocionais e de fala. Precisava de uma fonoaudióloga e de um psicólogo. Os exames com profissionais de várias áreas tranqüilizaram Candice. O menino podia parar de tomar Ritalina.
O alívio que trouxe alegria para a mãe também rendeu alguns prantos. “Quando a gente tem um filho, quer que ele seja feliz e saudável. Às vezes, as pessoas não procuram o médico porque não querem ouvir um diagnóstico negativo”, conta. Como grande parte das mulheres que se sentem culpadas por trabalhar demais e ter pouco tempo para os filhos, Candice não conseguia dar limites a Enzo e ficava atrapalhada na hora de lidar com o menino. Reconhecer essa dificuldade foi o primeiro passo. O resto foi aprendendo aos poucos.
Nesse meio tempo, ela se separou do marido. Quando soube do novo diagnóstico de Enzo, também Candice passou a fazer terapia com uma psicóloga. Aos poucos, a situação começou a melhorar e as idéias ficaram mais claras. Hoje com cinco anos, Enzo está prestes a receber alta do tratamento com a fonoaudióloga e com a psicóloga. O medo de que o filho ficasse estigmatizado fez com que Candice pensasse em trocá-lo de turma, mas o próprio Enzo se impôs: “Mãe, vou melhorar e mostrar para meus colegas que mudei”. Não só continuou na mesma turma, como teve um aproveitamento excelente, conforme mostram suas avaliações.
Candice superou o fantasma das culpas e se empenhou no tratamento dos dois. “O tratamento mais importante foi comigo, me ensinou como agir”, explica. Aprendeu que dar limites também é uma demonstração de amor. Ao mesmo tempo, mudou completamente sua rotina de vida. Atualmente passa a manhã e almoça com o filho, e compensa a carga horária ficando até um pouco mais tarde no trabalho. Está convencida de que sua produção no emprego até aumentou, além do relacionamento com o filho estar cada vez mais fortalecido.
Divide a experiência com outras mães, sempre que possível. “Se vejo pessoas em situação parecida, eu me aproximo e falo com elas”, avisa. Geralmente são mães que, diante dos ataques dos filhos, trazem no rosto o questionamento do tipo “onde vou me enfiar?”. Esses dias, uma delas lhe telefonou, agradecendo: “Tu não sabes como me ajudou”. Candice sabe.