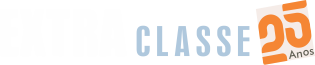Comer o outro para ser eterno
Extra Classe – É correto afirmar que existe um quê de antropofagia e canibalismo cultural que permeia a sua obra?
Alberto Mussa – Acho que sim. Se a gente pensar naquele sentido do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Porém, a motivação fundamental não partiu de um interesse específico deste pensamento. Apesar de eu considerar o Manifesto uma peça literária muito bonita. Partiu mesmo de uma característica de personalidade. Acho que cada autor coloca sua personalidade de escritor em função de seus interesses e daquilo que considera importante escrever. Além da literatura, de todos os gêneros e épocas, sempre me interessei desde muito cedo por línguas: hebraico, africano, grego, línguas indígenas, dialetos árabes etc. Esse conhecimento de línguas acabou me transportando para a mitologia dos povos que falam ou falavam essas línguas. E, apesar de nunca ter feito estudos acadêmicos em relação a isso, a mitologia é outra área que me instiga bastante.
EC – Mas o senhor está afastado do mundo acadêmico.
Mussa – Sim, abandonei a Universidade há muitos anos. Não segui a carreira que eu pretendia. Inicialmente eu queria ser professor de Literatura Africana, mas isso acabou não se concretizando. Tentei fazer um doutoramento em línguas Tupi-Guarani em 1990, mas isso também não foi avante. Acabei me desviando da academia e me tornando escritor, justamente pela falta que a Universidade fez. Mas esses assuntos sempre me interessaram, assim como a história e a pré-história dos povos. O meu primeiro livro, Elegbara, se baseia numa figura da mitologia africana, que é o orixá Exu. Foi então que escrevi algumas histórias em que direta ou indiretamente aparecia esta figura. E esse já era um início de tratamento desta questão mitológica. Certa vez usei como resposta a citação de Oswald de Andrade: “Só me interessa o que não é meu. Lei do Homem. Lei do Antropófago”. E isso coincide com a minha busca. Com essa vontade de conhecer culturas.
EC – A questão da linguagem também é sempre importante em seu trabalho, tanto quanto o que é narrado. Como funciona o seu processo de apropriação da linguagem e da forma de pensar dos indivíduos e povos sobre os quais o senhor escreve?
Mussa – Na verdade não sei se eu chego nesse nível de apropriação, pois isso exigiria um conhecimento e uma formação especializada em Antropologia, que não tenho. Sou um leitor leigo. Meu objetivo é a Literatura. Na verdade, busco apenas fazer uma provocação literária. Como normalmente a gente encontra em culturas que não são as nossas, mas estão próximas de nós, fatos, costumes e incidentes muito diferentes da nossa forma de pensar, isso se torna um elemento literário forte e muito produtivo. São elementos que nos obrigam a refletir e a fazer uma viagem maior. Obviamente existe um tipo de literatura que é mais referencial, que procura retratar o cotidiano ou os dramas da contemporaneidade. Existem excelentes autores que tratam dessas coisas. Não é o meu caso. Me interessa o contrário, buscar situações exóticas – entenda-se o termo no sentido etimológico da palavra. Mas esse exotismo, esse diferente que está fora de mim é o que realmente me motiva.
EC – Não há uma certa universalidade nesse exotismo? Mitos originários de várias culturas distantes possuem muitas semelhanças. O senhor poderia enumerar alguns e referir qual a sua interpretação desse fenômeno?
Mussa – Sim. Existe quase uma contradição. As culturas são muito diferentes e os mitos similares. Existem vários exemplos espalhados pelo mundo. O mito do dilúvio foi contado na Babilônia dois mil anos antes da redação da Bíblia. Depois passou a ser um tema clássico, mas essa história também foi contada com variantes na África e pelos nossos índios Tupinambás e Tamoios. Esse é um tipo de mito universal como tantos outros. É como se existisse um fundo cultural comum e gigantesco que vem da alta pré-história da humanidade, quarenta ou cinquenta mil anos atrás, quando muito da compreensão das coisas passava pela mitologia. A partir da dispersão dos homens pelo planeta, esse conhecimento foi mantido e foram feitas adaptações locais. O motivo do mito é o mesmo, mas a significação é diferente. Outro mito recorrente é o da origem do fogo. Raramente, nas várias culturas onde ele existe, o fogo é descoberto. Quase sempre é roubado. Isso não pode ser coincidência. Pode, inclusive, conter uma verdade histórica profunda. Claro que para que seja entendido como mito, sempre está presente algum elemento mágico, fantástico. O fogo é roubado, portanto não se trata de uma invenção do homem, mas sim de um conhecimento que ele rouba, adquire, e a partir daí se diferencia dos outros animais. Para os gregos significa o castigo de Prometeu, que não era um homem, e num ato de doação pelo bem da humanidade se sacrifica. Um mito análogo com a história de Jesus, que se também se sacrificou em prol dos homens. Já no mito Tupinambá não existe essa significação de sacrifício, mas de superioridade do homem ante os animais. Em resumo: o homem rouba o fogo do abutre, que era o dono do fogo. Com isso, a ave que comia carne cozida, passa a comer carne podre.
EC – Em Meu destino é ser onça o senhor escreve que o canibalismo era um traço civilizatório dos índios e os diferenciava dos animais. Como isso se deu?
Mussa – O canibalismo dos Tupi é bastante complexo e nós ainda não temos uma compreensão exata disso, pois fazia parte de uma cultura que já desapareceu. Só podemos nos valer do que foi escrito, porém essas fontes sofreram muitas interferências. Mas a ideia básica passa pela realidade de então, quando a morte natural era algo muito perigoso. Além disso, o objetivo religioso era chegar à Terra-sem-mal, uma espécie de Paraíso, onde se viveria para sempre, dançando e bebendo. Nesse lugar, não havia incesto, nem morte, nem trabalho. Para se ter direito a esse paraíso, em que a vida é só prazer, era necessário que a alma fizesse uma grande viagem cheia de provas por lugares perigosos. Ou seja, o Tupi precisava se habilitar durante a vida para essa Terra-sem-mal. Parte desse processo de habilitação à vida eterna passava pela quantidade de nomes que a pessoa conseguia obter. Então, o matador, toda vez que matava, tomava o nome do morto e o integrava ao seu. Cunhambembe, por exemplo, possuía centenas de nomes, pois havia matado mais de cem pessoas. Quanto mais nomes, mais apta a pessoa estava para assumir a vida eterna. A pessoa que morria sacrificialmente já era admitida nesse local. Há um jogo de inversões, em que aquele que vence adquire credenciais para a vida eterna e aquele que morre já a conquista de imediato, ou em algumas interpretações, tão logo fosse vingado. Já a morte natural não credenciava a nada, e forçar a própria morte seria uma covardia. Essas pessoas precisavam vingar uma série de antepassados numa situação desejada de morte em que o matador e a vítima precisam um do outro para atingir seus objetivos.
EC – Por que restituir o mito Tupinambá?
Mussa – Primeiro, porque acho que como peça literária é muito interessante. Segundo, porque também existe um serviço à cultura brasileira que precisa ser prestado, que é o de colocar em português essas coisas todas que estão em outras línguas e que teoricamente, pelo menos, deveriam nos interessar mais do que aos outros. Afinal de contas, nós temos uma relação direta, histórica, com esses povos. Não só vivemos no mesmo território em que eles existiram, como somos descendentes deles. A maioria das pessoas que vive no Brasil descende de índios, por mais que sejam muito miscigenados. O fato é que existe na população brasileira uma continuidade genética, biológica e espacial de uma população que viveu aqui. Ora, em qualquer país que se tenha o mínimo de respeito pela história e pela cultura, se preserva e se estudam as formas culturais ancestrais.
EC – Até por que a cultura indígena influiu muito na formação da identidade brasileira. Até mesmo na linguagem. Esses elementos, mesmo que diluídos, ainda estão presentes?
Mussa – Exatamente. O português do Brasil é o que é em função dos falantes da língua geral, do tupi antigo e das línguas africanas. O nosso português está totalmente contaminado por essas línguas todas. Mas não só na questão da linguagem. O Brasil não seria o que é se não tivesse a história que teve. Não há outra herança que não a história. E é a relação que se deu entre todos os povos que coexistiram aqui, com ou sem violência, que resultou no que somos hoje. Isso é o que condicionou a formação do povo brasileiro e suas variantes regionais. Eu acho que é um dever nosso preservar, discutir e trazer à tona essa documentação, não só dos Tupinambás, mas de centenas de povos indígenas. A gente pensa hoje muito em preservação do meio ambiente e da biodiversidade, porque se compreendeu depois de muitos anos de desrespeito à natureza que é fundamental para a vida que se preserve essa diversidade. E eu acho que tão ou mais importante que isso é a diversidade cultural. E o Brasil tem isso. É um país com uma das maiores diversidades culturais do mundo. São quase 200 etnias que possuem línguas e modos de pensar diferentes. Precisamos conhecer e valorizar isso. Por meio do estudo, trazer para o imaginário que compõe nossa nacionalidade essa questão da nossa ascendência indígena. Esse aspecto foi massacrado durante o período colonial, por ser indesejado. Existia a questão de limpar o sangue por não sei quantas gerações para deixar de ser considerado bugre, mulato ou negro. Só que agora já estamos em condições de reverter essa situação e encarar a história de outra maneira.
EC – Em O trono da Rainha Ginga, os africanos. Em O enigma de Qaf, os árabes. Em Meu destino é ser onça, os índios. Já em Elegbara e O movimento pendular a narrativa atravessa a história de vários povos e culturas. Existe um plano, uma espinha dorsal em sua obra no sentido de definir a si e também a nós brasileiros, pelo entendimento e compreensão daqueles que não somos, mas que de alguma forma construíram nossas heranças culturais, éticas e estéticas?
Mussa – Nunca foi um plano consciente. Na verdade, essas coisas foram acontecendo na medida em que me interessaram em momentos distintos da minha história pessoal. Meio por acaso. O trono da Rainha Ginga e Elegbara são frutos do mesmo movimento. A própria Rainha Ginga faria parte do projeto inicial de Elegbara e estaria entre os personagens que compõem o livro. Tanto é que ela também tem a presença do personagem Exu na trama. Na época eu ganhei uma bolsa da Biblioteca Nacional para produzir um romance. Como esse conto já tinha tomado uma proporção maior do que os demais, acabou virando um livro a parte. Esses dois livros, portanto, são consequência daquele período que estudei muito história da África, línguas africanas e possuía uma acúmulo sobre o tema. Minha dissertação de mestrado chamava-se justamente O papel das línguas africanas na história do português do Brasil. Eu já tinha muitas leituras sobre línguas e mitos africanos, além de um interesse pessoal, pois frequentei muito candomblé e umbanda quando era mais jovem. Além disso, fui capoeirista e sempre estive ligado ao universo de escola de samba. Meu tio foi compositor de sambasenredo de carnaval e meu irmão, que introduzi na capoeira hoje, é mestre. Depois disso, me interessei pela poesia pré-islâmica e comecei a estudar árabe. Foi quando fiz a tradução dos poemas suspensos e acabei fazendo uma ficção ambientada no mundo árabe, que é O enigma de Qaf. Já O movimento pendular que foi escrito mais tarde abarca vários povos e culturas. O livro mais recente, Meu destino é ser onça, já não é ficção. Ainda tenho um projeto de fazer uma obra de ficção sobre esse universo, principalmente sobre as bandeiras, que podem render boas histórias.
EC – Esse vai ser o próximo livro?
Mussa – Ainda não. O próximo é uma historinha que se passa no Rio de Janeiro, mais ou menos à feição de A Rainha Ginga, naquele mesmo ambiente. Mas está nos planos, para daqui alguns anos, esse romance maior sobre as bandeiras que é uma aventura fascinante e que não possui um livro de referência. Eu gostaria de fazer esse livro. Mas também tenho interesse em escrever algo sobre a China, que é uma civilização que me interessa muito.
EC – Voltando a Meu destino é ser onça. É muito difícil para as pessoas compreenderem as virtudes dos ritos canibais indígenas?
Mussa – Eu acho que se não entendem, pelo menos deveriam se dar conta de que existe uma metafísica complexa. Esse canibalismo não se dá em um estado de selvageria. Ele tem uma significação metafísica. Existe um sentido, uma razão para existir.
EC – Se há razão não é animal. Seria isso?
Mussa – Sim. E tem um objetivo nobre decorrente de uma forma de compreensão do mundo, que por mais que seja diferente da nossa, tem de ser respeitada. Nós representamos apenas uma maneira de encarar o mundo, que não é melhor nem mais correta. Um índio, por exemplo, não concebe que alguém fique preso. Isso é uma abominação. E nós que temos cadeias e prendemos outras pessoas nelas. Na visão deles, somos verdadeiros selvagens, pois praticamos uma violência que é terrível. Ao mesmo tempo nós os julgamos selvagens porque eles comem pessoas, ou melhor comiam. Ser enterrado ou morrer naturalmente era a pior coisa possível. Essas diferenças de opinião mostram que ninguém está com a razão absoluta. Justamente por isso não podemos partir de um pressuposto de que estamos em um estágio superior. Isso é uma grande mentira.
EC – A leveza fluída do seu texto é ocasional ou metodicamente lapidada para que favoreça ao leitor acompanhar seu estilo reflexivo de contar histórias?
Mussa – Quando se começa a escrever, você precisa encontrar um estilo pessoal e senti isso logo no início, quando comecei a querer ser escritor. Eu aprendi muito sobre isso por meio da leitura de Jorge Luis Borges e de seu biógrafo, Bioy Casares. Inclusive, gosto mais do Casares, apesar de Borges ser um gênio indiscutível. E sendo brasileiro, tinha duas sombras muito pesadas: Machado de Assis e Guimarães Rosa, que eu não tinha como imitar, tanto por falta de capacidade, como por serem referências muito marcadas. Como eu vinha do mundo acadêmico, essa identificação com os dois argentinos me dizia que era possível com a experiência de texto que eu já tinha ir naquela direção. Mas essa influência serviu muito mais para que encontrasse meu estilo pessoal, minha voz própria, me permitindo ser eu mesmo em meus textos. Porém, eu acho que minha maneira de escrever só alcançou a maturidade em O enigma de Qaf. Antes disso meu estilo ainda estava em construção.
EC – Como o senhor quer atingir o leitor? Que tipo de compreensão espera provocar?
Mussa – Não sei se espero compreensão. É mais provocação. Além disso, sinto muita falta na Literatura brasileira do fantástico e da aventura. Mas não tem aí uma crítica. Nossa literatura não fica devendo para nenhuma literatura do mundo. Porém, não temos essa tradição e tento explorar um pouco isso.
EC – Seu trabalho não é ensaio acadêmico nem ficção pura. Como o senhor o define?
Mussa – Em alguns livros, por mais que misture essas duas coisas, existe uma fronteira bem nítida. O movimento pendular, por exemplo, foi um livro que sofreu muito com um tom muito ensaístico que tinha, apesar de ser ficção, um romance. Já Meu destino é ser onça não é ficção. Por mais que eu tenha utilizado ficção e tenha partido de uma proposta literária que é reconstituir uma coisa que nunca existiu, trata-se de um ensaio.
EC – Mas também há uma questão de hábito de escrita que ajuda nessa classificação, não é mesmo?
Mussa – Sim (risos). O movimento pendular eu escrevi a mão, como todas as minhas ficções e Meu destino é ser o nça foi direto no computador, como todos os ensaios. E é uma coisa psicológica minha.