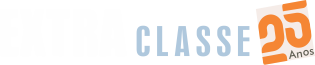Carlos Heitor Cony é jornalista e escritor. Esta última atividade deixou de lado por exatos 23 anos. O afastamento da literatura durou até a publicação de seu livro mais recente, Quase Memória, prêmio Nestlé de Literatura 96. Em outubro terá esta obra lançada na França. Esta repercussão favorável o estimulou a escrever mais.No Brasil, neste mesmo período, chega às livrarias seu novo romance, A casa do poeta trágico. Um projeto que levou mais de trinta anos para sair da gaveta.
Carlos Heitor Cony é jornalista e escritor. Esta última atividade deixou de lado por exatos 23 anos. O afastamento da literatura durou até a publicação de seu livro mais recente, Quase Memória, prêmio Nestlé de Literatura 96. Em outubro terá esta obra lançada na França. Esta repercussão favorável o estimulou a escrever mais.No Brasil, neste mesmo período, chega às livrarias seu novo romance, A casa do poeta trágico. Um projeto que levou mais de trinta anos para sair da gaveta.
O autor esteve, pela primeira vez, na 7ª jornada Nacional de Literatura, em Passo Fundo, onde concedeu esta entrevista exclusiva ao Extra Classe, falando de literatura, política e ética na imprensa. Ele elogiou a infra-estrutura da cidade e a organização da Jornada.
“Passo Fundo me pareceu proporcionar uma excelente qualidade de vida aos seus habitantes e por isso é uma boa sede para a Jornada. Isso me lembra os três congressos de literatura que aconteceram nos anos 60, no início de minha carreira, acontecidos consecutivamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba, reunindo gente de todos os estados. A última edição foi em 1962.
Depois, com o golpe militar, estes congressos pararam de acontecer. Agora, Passo Fundo já está realizando sua 7ª Jornada. Desde 1995 ela já acontece com repercussão forte em todo país. Isso revela antes de mais nada competência de quem organiza. Não basta força de vontade, tem de ter estrutura para fazer este trabalho de primeiro mundo em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul.”
Extra Classe – Como é que o senhor analisa o episódio que envolveu a princesa Diana no que diz respeito a ética jornalística, uma vez que o seu posicionamento geralmente é bastante crítico em relação a imprensa?
Carlos Heitor Cony – Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que discordo muito do jornalismo invasivo, seja no texto ou nas imagens. Particularmente, acredito que no jornalismo, como em qualquer outra profissão, deve haver não apenas ética, mas também a boa educação. Isso vale para o padre, o jogador de futebol, o presidente da República e até mesmo para o lixeiro. Se uma pessoa declara que não quer falar, ser fotografada o filmada, seu desejo deve ser respeitado independente de ser o maior criminoso do mundo ou um santo. Não se pode violentar as pessoas em nome de um pretenso interesse público. Isso é a tese geral. Só que, no caso específico da Lady Di, é tudo diferente. Ela sempre se beneficiou do assédio da imprensa. Por isso é necessário realizar a equação custo-benefício. Se não fossem os paparazzi e a imprensa, ela seria uma sub Caroline de Mônaco. Ela cultivou passivamente a participação da mídia em sua vida, tornando-se até certo ponto cúmplice da própria morte.
EC – Como se explica esta cumplicidade?
Cony – Ela entrou na regra do jogo e pagou por ele. Se ela tivesse chamado os fotógrafos na porta do hotel e beijasse o seu amante em público, não haveria perseguição. Na medida em que ela começa a brincar de esconde-esconde, atiça a curiosidade e valoriza as próprias fotos. Este é um procedimento muito comum entre celebridades. Apesar do lamentável desfecho dos acontecimentos, jamais se pode acusar os paparazzi e os fotógrafos de abutres ou assassinos.
EC – Poderia comentar o tema de sua palestra, A Sátira na Literatura?
Cony – Na verdade, este tema não fui eu quem o escolheu e o considero bastante difícil. – O que será a Sátira? – Um gênero? Acho que não. Ela existe tanto na prosa como no verso, na crônica ou no romance. O maior exemplo de um satírico em nossa literatura foi Gregório de Mattos que tinha por finalidade de sua obra castigar o mundo através deste recurso literário. Muitas vezes a sátira é confundida com o humorismo. Humor é Veríssimo, Millôr, Ponte Preta. Outra confusão que se faz é com os panfletários como Lima Barreto. Existem também os picarescos, em que me incluo e cito o próprio Machado de Assis. Toda a literatura que tenta retratar a sociedade é uma sátira e todos os gêneros se servem dela de uma forma ou de outra.
EC – A sátira realmente está em tudo?
Cony – Existe a vida e a ficção. Mesmo que alguém pretendendo escrever uma obra romântica sem a deliberação específica de fazer uma sátira estará tentando recriar o mundo colocando em jogo determinadas facetas da realidade que não aceita. Uns fazem isso de forma jocosa, outros de maneira mais séria, mas tudo é sátira. O próprio Drummond tinha muita coisa de sátira. Em linhas gerais quase toda literatura de costumes é um pouco picaresca e de certa forma satírica.
EC – Como o senhor classifica a crônica, como gênero literário?
Cony – A crônica é um gênero tipicamente marginal. Pois não pertence ao jornalismo, por não conter informação e também fica à margem da literatura, por ser vista como um texto menor. Temos que entender que a crônica é um fenômeno tipicamente brasileiro, que não existe equivalente lá fora. No exterior, existe o artigo e a resenha. O que caracteriza a crônica é a disposição do eu. O cronista é o sujeito se expondo. O personagem principal, ou melhor, único da crônica é a primeira pessoa do singular. Mesmo que o eu não esteja explícito no texto, permanece na forma da valorização da visão pessoal do autor. Machado de Assis foi mestre nesta área. Ele foi maior cronista do que contista. Mas como a crônica é considerada um gênero menor ninguém fala nada. Rubem Braga, Humberto de Campos, Paulinho Mendes Campos também foram grandes cronistas.
EC – O senhor ficou 23 anos sem escrever literatura, uma parte deste período desenvolveu projetos como diretor de teledramaturgia na TV Manchete. Existe plano de dar continuidade a este tipo de trabalho?
Cony – Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que minha participação na TV nunca teve caráter criador. Eu apenas escolhia textos, escrevia sinopses e dava algumas idéias. Literalmente fazia parte de uma equipe.
EC – Como é dar idéias e participar de um processo industrial de criação?
Cony – Eu dei a idéia para algumas novelas, entre elas a Marquesa de Santos, Dona Beija e Cananga do Japão. Mas nunca desenvolvi os capítulos. Isso era trabalho para uma equipe, como tudo em televisão, diga-se de passagem. A Dolce Vita do Fellini, por exemplo tem oito roteiristas, inclusive ele próprio. O próprio William Falkner, que recebeu o Nobel de Literatura, já fez parte de equipes de até seis escritores para desenvolver roteiros para o cinema americano dos anos 30 e 40. Não vejo nada demais em trabalhar em grupo.
EC – Como surgiu o nome do seu novo romance, A casa do poeta trágico, que está sendo lançado neste mês de outubro? É verdade que o título veio antes mesmo da história?
Cony – É verdade. O nome deste livro ficou girando na minha cabeça por mais de trinta anos. Eu já tinha este título, muito antes de escrever o meu primeiro livro. A casa do poeta trágico é o nome de uma das casas que escaparam praticamente ilesas à erupção histórica do vulcão Vesúvio na cidade italiana de Pompéia, perto de Nápoles. Após várias escavações a cidade toda veio à tona e com ela várias casas quase intactas com inscrições do tipo, Casa das festas, Casa de Marcelo e outras tantas. Uma delas, a mais bem conservada levava o nome que dei ao livro. Na verdade não há nada de específico a não ser uma placa com uma inscrição em latim dizendo ”cuidado com o cão”. Eu juntei as duas coisas, a casa e o cão e comecei a pensar em um enredo para este livro.
EC – Do que trata o livro?
Cony – A inspiração veio de um verso de Verlaine que diz: “Num grande quarto solitário e vazio dois espectros vão conversar”. Trata-se, na verdade, de um homem de 46 anos que conhece uma menina de 16. A menina pede para ele seqüestrá-la. O pedido é atendido. Em seguida, assim como ele abandona tudo para ficar com ela, ela o abandona para ficar sozinha. Se passam 35 anos até voltarem a se encontrar. O enredo gira em torno deste encontro. Eles são os tais dois espectros que se encontram para remontar o passado. Basicamente é disso que trata o livro.
EC – Quase memória está sendo lançado na França no mesmo mês em que A casa do poeta trágico no Brasil. Sabe-se que o senhor não gosta de fazer agenda de divulgação de seus livros. Existe algo programado para conciliar as agendas de divulgação?
Cony – A única agenda com que tenho compromisso é a da minhas férias. Quando esta entrevista for publicada, devo estar na Itália, visitando a minha filha que mora em Roma. Depois pretendo pegar um navio e passear pelo Mediterrâneo. Quando o Luiz Schwartz, meu editor, perguntou quando seria o lançamento de Quase memória, a minha resposta é que livros não são foguetes. Depois que entrego o livro para a editora, é problema deles.
EC – Já que o senhor não gosta deste processo de lançamentos e autógrafos, do que o senhor gosta?
Cony – Adoro vender, adoro mulher, adoro dinheiro. Gosto de tudo que é bom na vida. Com dinheiro, mulher e prêmio eu sou fanático e vou correndo buscar, mas não vou pedir. Se o lançamento do livro fosse apenas uma reunião social a pretexto de divulgar o livro, tudo bem. Mas na medida que tem aquela mulherzinha sentada em uma espécie de balcão vendendo o livro e eu tenho que esperar ela dar o troco para conceder o autógrafo, acabo me sentido meio dono de restaurante. Se alguém me oferecer um milhão de dólares eu corro para pegar, mas pedir eu não peço. Isso é uma questão pessoal. Acho horrível saber que um amigo a quem eu gostaria de presentear com meu livro terá que sacar a carteira para obtê-lo. Para mim não dá. Não é nem uma questão de humildade da minha parte. Sou tudo que há de ruim. Sou orgulhoso, vaidoso e guloso. Mas noite de autógrafos eu não faço.
EC – Mas quando o senhor lançou Crônicas Políticas, em 1964, abriu uma exceção?
Cony – Aliás, foi a única vez em que topei fazer uma sessão destas, mas foi por questões políticas. Se não me engano, foi a primeira manifestação pública após o golpe. Estavam presentes marinheiros, soldados, operários e gente que havia sido torturada ou presa. Na verdade, não dava para considerar como uma noite de autógrafos e sim como um comício político.
EC – Seu posicionamento ético tem alguma relação com o fato de ter sido um seminarista?
Cony – Acho que não. Sempre fui um seminarista safado.
EC – O que é ser um seminarista safado?
Cony – Eu tentei levar aquele troço a sério, mas não dei para a coisa. Eu sempre gostei do lado teatral de todas as religiões, no que se refere ao culto em si. Com exceção destas novas, do tipo messiânicas, acho os rituais fantásticos. Todas as religiões enraizadas historicamente como o candomblé, o catolicismo, principalmente o ortodoxo russo, que possui cerimônias maravilhosas. Tudo isso é lindo como o teatro e no seminário eu tive uma vibração muito forte com essas coisas e acho que vou sentir falta disso para o resto da vida, apesar de não ser religioso.
EC – Como o senhor analisa o politicamente correto?
Cony – Eu considero a atitude dita politicamente correta como antiética na essência. A ética está dentro de nós, não precisa de advérbios. Não existe ética correta ou incorreta. Os politicamente corretos acabam gerando coisas como o neoliberalismo e outras coisas que eu repudio e sempre repudiei. Acho ridículo alguém dizer em vez de cego, que alguém é desprovido de visão. Este conceito de politicamente correto é um equívoco da mídia norte-americana, que é basicamente hipócrita.
EC – Como o senhor define o presidente Fernando Henrique Cardoso no espectro ideológico entre o neoliberalismo e a social-democracia?
Cony – Ele se define como social-democrata, mas a política que está exercendo é o supra-sumo do que se convencionou chamar de neoliberalismo. Já houveram várias globalizações ao longo da história, a da revolução mercantilista, industrial, e hoje a da era econômica. Isso se deve à ausência de um rival de características nítidas a esse modelo. Com isso, o capital está se impondo da seguinte maneira: aqueles países ricos que já se encontram capitalizados e dominam as bolsas de Hong Kong, Tókio e Nova Iorque, por que motivos vão se preocupar com os problemas do mundo pobre? Já no mundo pobre, o neoliberalismo pretende premiar os atos dos ditos capazes, o que chamam de meritocracia; enquanto isso, a grande massa, cerca de dois terços a quatro quintos da população terrestre que não têm capacidade nenhuma, será destinada ao trabalho escravo ou a nenhum. Antigamente, o Brasil não produzia nada, os manufaturados todos vinham de fora. Só se produzia café, algodão e açúcar. Hoje o país está industrializado e voltou aos tempos de importador, infelizmente, graças a esta teoria econômica da globalização.
EC – Qual a conseqüência disso?
Cony – Os países pobres vão continuar pobres. Mas os países que estavam a um passo do desenvolvimento, como o Brasil, vão acabar voltando para trás. Isso é a maneira que o grupo dos sete – os sete países mais ricos do mundo – encontrou para impedir que o grande bolo econômico venha a ser dividido com outras nações no chamado Consenso de Washington. Em uma balsa cabem 17 pessoas com provisões para sobreviver uma semana em alto mar. Ela se encontra ocupada após um naufrágio, por exatos 17 tripulantes, destes, três são fortes e capazes, sendo os restantes, crianças, velhos, doentes ou paralíticos. Os fortes se recusam a dar comida para os mais fracos, para que eles morram logo. É isso que o neoliberalismo faz, joga os mais fracos ao mar e o FHC está nisso. Existe um livro fundamental para se ler que trata deste assunto, O horror econômico, de Viviane Forrestier. Durante muitos anos o capital explorava o trabalho humano. Hoje o capital está excluindo o homem do processo. Como o Capital irá manter quatro quintos da humanidade que não produz nada. Eles já foram explorados. Eles já foram excluídos. Pela lógica, agora só falta a eliminação.