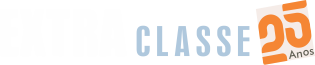As rádios e TVs brasileiras que tocam música transformaram-se em verdadeiras jukebox do avesso. Uma jukebox é um mecanismo que toca a música escolhida desde que o ouvinte coloque uma moeda e aperte o botão. Maquininha bastante popularizada nos EUA dos anos 60 e que pode ser encontrada, hoje, em qualquer lanchonete brasileira de periferia, ao lado de outros mecanismos caça-níqueis. A grande diferença é que os departamentos de marketing das gravadoras é que colocam as moedas no rádio e na TV. Quem ouve a música e vê o artista, além de não ter a escolha, não sabe de nada sobre esse negócio que movimenta milhões e é responsável por boa parte do faturamento das emissoras. Essa transação já tem nome no meio cultural, o jabaculê, vulgo jabá, mas geralmente é apresentado pelo pomposo nome de campanha promocional, que não passa, na verdade, do “bom” e velho suborno.
Nereida Grabauska
Das palavras à imaginação
A prática não é nova, já lidera as paradas há mais de três décadas, no Brasil. A novidade é o Projeto de Lei, que será apresentado em junho pelo deputado Fernando Ferro (PT-PE). Se aprovado no Congresso Nacional, pode tornar crime a execução de músicas nas rádios e TVs mediante pagamento. A proposta é inspirada em legislação internacional, sobretudo a dos Estados Unidos, cuja regulação sobre o assunto é da década de 60 e está sendo revista no momento. O projeto conta com o apoio do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, e de músicos como Lulu Santos, Lenine e Lobão. Preverá pagamento de multa e até reclusão para infratores. A proposta de Ferro suscitou uma questão importante a ser debatida: o público deve saber sempre se a música que está escutando está sendo paga pra tocar ou não?
“O jabá força o consumo da indústria fonográfica. As rádios deveriam ter a obrigação de deixar claro que a música está sendo tocada por dinheiro. Seria uma maneira de dividir o espaço editorial do publicitário”, propõe o deputado. As rádios afirmam que o jabá incrementa o faturamento e seria muito difícil sobreviver sem ele. “O projeto não proíbe que as emissoras recebam tal pagamento, mas prevê que seja anunciado o patrocínio”, explica o deputado Fernando Ferro.
No Rio Grande do Sul, oficialmente as rádios negam a prática. Gente do setor afirma que ela vigora, porém de difícil comprovação. O jabá é praticado mundialmente. Estima-se que a indústria fonográfica americana tenha gasto US$ 40 milhões com pagamentos a estações de rádio e televisão para promover seus produtos de entretenimento.
O jabá nos pampas
“O jabá existe”, conta Rogério Nunes (nome fictício), que trabalhou mais de 20 anos como divulgador para várias grandes gravadoras no estado. Há uma linha direta entre a indústria fonográfica e os programadores. “Muitas vezes os donos das emissoras nem ficam sabendo”, conta Rogério, que prefere não se identificar, pois ainda atua no mercado. Em outros casos, a rádio tem até tabela e o dinheiro serve para cobrir a folha de pagamento, custear reformas, comprar veículos e bancar outros investimentos da rádio. O valor varia de menos de R$ 1 mil por mês, para tocar a música uma vez por dia, a R$ 5 mil para três rodagens diárias, alcançando valores altíssimos. “Tem rádio que pede R$ 100 mil”, conta Rogério. As práticas estão mais concentradas nas grandes redes de rádio sediadas em Porto Alegre e menos no interior do Estado. Mas as mega operações são mesmo praticadas no Rio de Janeiro, São Paulo e na Região Nordeste. “Lá é institucionalizado. Quem tem bom produto e bons ‘argumentos’, toca nas rádios”. O argumento, neste caso, é o dinheiro, traduz Rogério.
As gravadoras são forçadas a pagar jabá ou seu produto não roda. “Este negócio ficou caro e muitos selos estão quebrando”, diz Rogério, que é contra a lei que criminaliza, mas também é contra a maneira escusa e extorsiva que ocorre hoje. “Teria que ficar claro que isto existe, o dinheiro poderia continuar indo para as emissoras, mas de alguma maneira o ouvinte deveria ser beneficiado e mais respeitado neste negócio”, opina.
A mesma afirmação, de que as músicas tocam “patrocinadas”, foi feita por André Midani, à Folha de São Paulo, do dia 21 de maio. Ele, que, por 30 anos, foi um dos homens mais influentes da indústria fonográfica brasileira, afirmou que já pagou muitos jabás e classificou a prática como suborno.
Ouvinte enganado por tabela
O gerente operacional da rádio Pop Rock, Mauro Borba diz que muitas pessoas sabem que o jabá existe. “Ele começou com presentes para o programador. Depois as empresas passaram a lucrar com isso. Tem emissoras com tabela, por número de execução”, conta. A rádio, da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), é a 8ª no ranking das 22 FMs da região metropolitana, atingindo um público majoritariamente jovem e universitário. “A gente não compactua com isso porque tira a independência. A empresa não aceitaria. Nosso critério é o de atender aos interesses da audiência”, diz o profissional com 22 anos neste meio.
Mauro Borba acha que a lei ajudaria as rádios a não ficar no comando deste esquema. “As gravadoras têm que investir em outras formas de marketing. Com o jabá, as rádios ficam iguais e o público fica sem conhecer a produção nacional. Mas acho que existem emissoras que não querem esta liberdade”, analisa. E apóia a lei: “A questão de ser ilegal e ter penalidade, como multas, já coibiria, daria o exemplo, criaria formas de denúncia”, acredita Borba e relativiza: “No Rio Grande do Sul tem jabá. É menos que no centro do país, mas é proporcional ao tamanho do mercado consumidor”, compara. O comunicador acrescenta que na tevê também é muito comum a prática do jabá. “Há um tipo de pagamento, de troca de veiculação desde o tempo do Chacrinha”, exemplifica.
Para Alemão Vitor Hugo, apresentador da rádio Ipanema FM, há 16 anos, o jabá representa outra fonte de renda para as rádios. “As emissoras tocam direto uma coisa só que é para ‘grudar’ e vender, o que eu acho errado”, opina. Segundo ele, não se pode rodar seis vezes a mesma coisa. “É um saco repetir”. Vitor revelou que o tratamento da gravadoras em relação à rádio Ipanema é diferente. “Pra nós as gravadoras não oferecem nada e ficam de cara com a rádio porque a gente não trabalha assim. Pros outros, já entram com a grana na mão. A gente tem até que comprar CDs pra tocar quando acha que a música tem qualidade e tem o perfil da rádio”, justifica.
Músicos são reféns do esquema
“O jabá é uma merda. O critério deixa de ser a qualidade artística para ser o de quem paga mais”, afirma o baixista da banda Ultramen, Pedro Porto. No início da carreira o músico acreditava que era possível furar o bloqueio do toca quem paga. “Eu achava que podia lutar contra isso. Hoje é inútil. Ser independente é como não existir para o mercado. O esquema tá pronto e quem não tá nele não existe”.
“O jabá alto prejudica porque o trabalho artístico tem que visar ao lucro. O artista tem de produzir o que é comercial”, desabafa o músico. “A exigência da gravadora para a venda é muito forte”, reclama. Mas também compartilha da visão de que as gravadoras chegaram num beco sem saída por fatores como a pirataria de rua e a internet. “As gravadoras criaram um monstro e estão tendo muito prejuízo. A prática está enraizada. É difícil que acabe”. A própria Ultramen começou a obter boa execução de uma música nas rádios de São Paulo. Ele credita o fenômeno a um “pacote-jabá” da gravadora. Com isso, aos poucos, segundo Porto, a banda está emplacando shows no centro do país.
Quanto ao projeto de Lei, o músico pondera que, se for aprovado, vai ser uma daquelas leis “que não pegam”, como tantas no Brasil. “Ninguém denuncia porque tem medo de perder”, desafia. Sobre Lobão estar apoiando o projeto, Porto lembra que a rebeldia do músico virou caso de marketing. “Ele já fez parte deste tipo de prática e talvez por isso mesmo tenha se tornado conhecido. O esquema contra o qual ele luta colaborou para que ele seja isso. Hoje ele tem uma posição privilegiada”, analisa.
Feitiço contra o feiticeiro
O jabá está golpeando duramente as gravadoras: não conseguem mais pagar os valores cada vez maiores exigidos pelas rádios. Muitos atribuem a recente quebra da Abril Music às ostensivas verbas destinadas a esse tipo de “campanha promocional”. “A grana do jabá é a mais importante do processo industrial fonográfico. As gravadoras economizam em produção e gravação e pagam mais pra tocar, com a lógica de que, se não roda na rádio, a possibilidade de sucesso é menor”, analisa a comunicadora Kátia Suman. “Claro que jabá existe e rola em grana. É difícil provar. É preciso lembrar que rádios são concessões públicas e não podem se prestar a isto”, destaca.
A apresentadora acha válida a tentativa de moralizar a atividade. “É difícil combater porque é como o racismo no Brasil. Existe, mas as pessoas negam. Tem muita hipocrisia”, conta em seus 20 anos de carreira “sem jabá”. “No país tem uma especialidade: sempre se dá um jeito de não cumprir a lei”, relata a comunicadora que marcou sua carreira na rádio Ipanema, passou pela Pop Rock, Cultura e agora está na rádio Unisinos. E defende uma tese interessante: o próprio mercado vai acabar com isso. “Só aí Adan Smith acertou”, debocha, lembrando do criador da teoria de mercado no século XIX, origem do capitalismo. Ela lembra que a produção independente hoje é superior a 50% do mercado fonográfico e que este pode ser o diferencial. “Com o tempo os bons artigos vêm à tona e as rádios serão obrigadas a tocar”, acredita. “A diversidade tá gritando porque ninguém quer uma coisa só”, teoriza.
É fácil mentir e difícil provar
“Quem prova que programador recebe dinheiro de gravadora?”, pergunta o coordenador de programação da rádio AM mais ouvida no Rio Grande do Sul, Luiz Aguiar. Ele assegura que na Farroupilha a prática do jabá não existe. “Até porque hoje em dia as gravadoras não têm mais dinheiro e dispensaram boa parte dos divulgadores para economizar. Também questiona: “Quem prova também que a pirataria de rua não é feita pelas próprias gravadoras para não pagar direito autoral”?
A popularidade da Farroupilha ajudou a eleger um senador, tem mais de um milhão de ouvintes, especialmente nas classes D e E, e reúne cerca de 100 mil pessoas nas festas anuais de aniversário quando bandas de todo o país vêm animar a data de uma das sete rádios do sistema RBS.
“É fácil mentir. Se o profissional não é sério, acontece”, ressalta Mauri Grando, responsável pela relação com as gravadoras da rádio Cidade, do sistema RBS. Ele acha que a lei seria burlada. “Quem disse que os fiscais não seriam corrompidos?” lembra Grando.
“Vender o espaço musical significa abrir mão do lado artístico. A essência pra captar audiência é a música. Se não tenho condição de escolher, como vão me cobrar audiência?”, pondera o coordenador de programação da Cidade, líder de audiência na freqüência FM nos últimos oito anos, com atuais 100 mil ouvintes por minuto.
A seleção musical da rádio leva em conta o que toca no Brasil, a opinião dos DJs da rádio que percebem os estilos que estão em alta no gosto do público, das listagens do que faz sucesso nos EUA, além dos pedidos de ouvintes.
“A mudança só se dará pela conscientização de quem cobra e de quem paga”, aposta Júlio Fürst, diretor de programação da rádio 102.3, também da RBS. “As mudanças se dão por troca de cultura e não por imposição”, defende. “Não tenho experiência com jabá porque não trabalho assim. Mas ouço falar”, diz Fürst. Para ele, vergonha maior é a questão do direito autoral: os criadores não vêem a cor do dinheiro. Ele é integrante do extinto grupo Discocuecas, que fez sucesso por 20 anos, com quatro LPs e um CD gravados. Até hoje o grupo não recebeu um tostão de direito autoral.
Na Atlântida FM, segundo o programador musical Gerson Pont, para uma música entrar na programação, o primeiro critério observado é se “bate” no perfil dos ouvintes, “galera de 15 a 29 anos, classe a, b e c, no formato rock, pop”. “Não existe ‘pagamentos’ para execução de músicas”, garante.