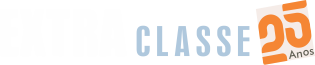Foto: René Cabrales
Foto: René Cabrales
Extra Classe – Que eventos ou circunstâncias o levam a fazer o jornalismo que você faz?
Caco Barcelos – Acho que o que me motiva é sempre tentar, através da minha reportagem, retratar uma história que está fazendo parte da vida das pessoas, de maneira muito intensa, porém com o objetivo de explicar melhor o que está diante dos olhos, mas não se vê com muita clareza. Foi assim com o Rota 66, que também era um tema que estava muito próximo das pessoas. Todos os dias se matavam quatro ou cinco jovens da periferia e isso nem era mais notícia para as redações. Se matavam dez não era notícia. Só foi notícia quando mataram 111 em um só dia, no Carandiru. Aí, virou manchete. Mesmo assim só foi dada importância porque o mundo ficou escandalizado.
Foto: René Cabrales Foto: René Cabrales
Caco – Há uma deformação, de fato, na imprensa em querer sempre buscar o inusitado.
EC – O bizarro?
Caco – Sim, o bizarro. De achar que só aquilo que surpreende as pessoas é que é notícia.
EC – É o mesmo que dizer que a violência e a miséria se banalizaram de tal forma no Brasil, que as coberturas não são fiéis à realidade?
Caco – É exatamente isso. Pelo menos, esses temas, quando entram no noticiário, não têm o tratamento que eu penso que deveriam ter.
EC – Este artificialismo das informações veiculadas de forma fragmentada beiram muitas vezes a ficção se comparado com a realidade vista e vivida por boa parte dos cidadãos comuns?
Caco – Eu acho que, se a gente não contextualizar esses pequenos fragmentos de notícia, fica uma coisa que parece realmente de outro mundo no que diz respeito à realidade do país. É muito fácil, quando há desonestidade na profissão, enganar as pessoas, sobretudo no que diz respeito a essas questões ligadas à violência. Só para dar um exemplo, pouca gente sabe que os assaltantes são entre os criminosos, responsáveis por apenas quatro por cento dos crimes de morte no Brasil. E em geral as pessoas pensam que eles é que são os mais violentos. Os jovens da periferia do Rio e de São Paulo são os que correm maior risco de vida em todo o mundo.
Foto: René Cabrales Foto: René Cabrales
Caco – Um a coisa que eu observo é que a imprensa brasileira consegue ser muito eficiente onde ela atua. O problema não é na atuação, é onde a imprensa não atua. O que ela deixa de fazer. Se a imprensa se comportasse, por exemplo, nas áreas onde está concentrada a maioria da população pobre do país, da mesma forma como se comporta na cobertura nas questões que dizem respeito às parcelas mais privilegiadas da população. Se dá muito espaço para os temas da classe média como se ela fosse majoritária no país. Então é uma questão bem objetiva, não estamos cumprindo nosso dever (em tom de irritação).
EC – Com isso os jornalistas não acabariam reproduzindo os mitos e preconceitos da classe média?
Caco – Eu acho que sim. Porque o foco da notícia está centrado nisso. Talvez isso se deva ao fato de a maioria dos jornalistas serem provenientes de classe média e aí os dramas que estão distantes das suas realidades são malcompreendidos e conseqüentemente malreportados. Os fatos que envolvem as parcelas menos favorecidas são vistos sempre a distância. Um exemplo, quando são retratados assuntos de interesse da classe média, tanto os jornais como as revistas fazem um trabalho de alta qualidade. Não tenho críticas a fazer aos textos da Veja ou da Folha de São Paulo se comparados com a imprensa européia. Mas o problema é que essa mesma eficiência não se transfere para os temas que afligem as pessoas sem poder nenhum.
EC – É como se não adiantasse ter uma imprensa de Primeiro Mundo quando a realidade não é de Primeiro Mundo? Você acha que a imprensa brasileira deveria repensar seu papel?
Caco – A imprensa não pode virar as costas para uma parte da população. Pode até parecer demagógico. Para mim, se estivéssemos morando na Suíça ou na Noruega, teríamos um jornalismo fantástico, mas o país é outro. A realidade social é outra e a cobertura jornalística deveria ser repensada sim, de acordo com essa realidade.
EC – Você teve muitos conflitos éticos durante a feitura de Abusado? Quais?
Caco – Tem uma coisa curiosa que eles não entenderam no começo. Mas o fato de eu já ter uma certa “estrada” de morro. Apresentei um programa de seis meses na TV a cabo que era produzido 100% nas periferias e nos morros. Então, quando alguma coisa era negativa, eu chegava e dizia na lata: “– Olha a coisa tá pesada para vocês, mas eu tô aqui para ouvir o lado de vocês. Se vocês me provarem que é mentira, eu rasgo minha matéria e ponho no lixo. Se provarem que só uma parte é mentira, eu publico os dois lados”. E depois eles viam a edição na TV e percebiam que era aquilo mesmo. Mas com o livro não tinha maneira de ter um resultado logo; no início foi complicado, pois eu dizia: “– Eu não posso acompanhar as histórias de vocês no presente. Eu não quero saber de nada que esteja ocorrendo agora. Se isso ocorrer, eu terei, por obrigação profissional, de interferir e denunciar e eu vou ter de abandonar o livro. E eles me diziam que o passado deles era uma “merrrda” (imitando o sotaque carioca do morro) e que preferiam falar do presente, do que estavam vivendo. Aí eu fui muito chato e persistente em não querer saber de amanhã ou hoje … somente de ontem. Com o tempo eles foram entendendo, embora alguns tenham se afastado. No fim deu tudo certo. Até porque muitos sabiam que eu havia ouvido bastante os chefes e isso estava a meu favor.
Foto: René Cabrales Foto: René Cabrales
Caco – Eu acho que o principal foi acreditar que as pessoas têm um medo exagerado do tráfico. É evidente que eles (os traficantes) cometem crimes brutais. E é claro que isso mete medo. Mas é esse medo que explica muito da força deles. Mas em geral as pessoas conhecem pouco esse mundo. Há, sem sombra de dúvida, muita mistificação a respeito, até porque a imprensa freqüenta pouco este ambiente e conhece pouco as histórias. Quando isso acontece, a tendência é do exagero e até de criar fantasias. Eu acredito na força da informação para vencer o medo. Isso também vale para a minha vida pessoal. Eu acho que, por dever de ofício, o repórter deve contar essas histórias.
EC – Que limitações você encontrou na cobertura dos recentes conflitos no Oriente Médio? Alguma vez se sentiu limitado pelas condições apresentadas em mostrar a realidade que presenciou?
Caco – De modo geral houve uma cobertura com peso desigual a favor dos americanos e britânicos. Até mesmo na quantidade de jornalistas provenientes desses países, acredito que uns 1.600. Isso é um dado que fala por si. Mas uma coisa muito interessante foi a imprensa ter acompanhado de perto o lado dos soldados.
EC – Mas você crê que o fato de os repórteres, por estarem lado a lado com os soldados, pode induzir ao comprometimento da qualidade da informação?
Caco – Sim, mas as imagens são tão fortes que acabam se impondo a essas distorções. Mas é óbvio que, se você está ali lado a lado com soldados, você acaba torcendo por eles até para não morrer e isso pode gerar deformação. Mas a contrapartida disso é a imagem que fala sozinha. Eu nunca tinha visto algo assim. Na guerra anterior do Golfo, por exemplo, só tinha um veículo cobrindo, a CNN, com aquela câmera aberta registrando os bombardeios luminosos, de longe. Algumas matérias a que assisti aqui na TV européia eram praticamente apenas a câmera ligada registrando tudo, a matança de civis, a ocupação de Bagdá em detalhes. Isso tem uma força que ainda precisa ser melhor analisada.
EC – É verdade que vida de traficante é muito chata e tediosa?
Caco – É um tédio (risos). Acho que só se compara a de um dono de botequim, só que mais complexo. Fica ali cuidando da firma (a boca), contratando gente, demitindo, negociando com a polícia, quando encontra um policial desonesto. Além disso tem de ser uma espécie de consultor sentimental das famílias do morro. Afinal, não existe nenhuma instituição do Estado levando qualquer tipo de apoio para aquela gente. Não tem correio, não tem hospital, biblioteca, creche pública, não tem nada. A cidadania não chega lá. E o tráfico, mal ou bem, dependendo do traficante, faz esse papel. Os assaltantes, por exemplo, detestam essa função. Tem de ter esconderijo para guardar o pó. Tem de cuidar da embalagem. E o assaltante não. Ele contrata uma quadrilha free-lancer, faz o assalto e acabou. Cada um para o seu lado. O traficante precisa de uma quadrilha fixa. De homens de confiança. Já o assaltante, se tem uma informação de qualidade, organiza a quadrilha, executa o trabalho, pega a grana e vai gastar com mulheres e desfaz a quadrilha na mesma hora. Não precisa ter esconderijo fixo e corre menos riscos.
EC – Como se dá o poder paralelo no morro, ocorre assim como nos presídios?
Caco – No morro não é uma coisa consciente. Já nos presídios é. Até porque alguns detentos acabam sendo intelectuais. Com 20 anos para cumprir, acabam lendo muito. No morro o que impressiona é a barbárie. Isso é o que mais explica a força deles. Nessa luta as pessoas acabam respeitando as regras até pela proximidade de convivência com as quadrilhas.
EC – A sofisticação atribuída aos criminosos é mitológica?
Caco – Eu nunca acreditei nessa sofisticação. Qual a organização formal? Nenhuma. Mas eles precisam cumprir as regras e fazer cumprir para o negócio continuar. E o componente cadeia é muito significativo, principalmente se uma ordem vinda do morro não for cumprida. O dia em que aquele que não seguiu a orientação for preso o bicho vai pegar. Então é isso. Todo traficante que está no morro sabe que o dia dele de cadeia vai chegar. Então esse respeito pela força não traz nenhuma sofisticação em si. Não é mais complexo que uma facção de torcidas organizadas de futebol.
EC – Depois de tudo que você viu, ouviu e relatou, o que muda na sua visão com relação a essas comunidades carentes que possuem ligação com o tráfico ou vivem em torno deste?
Caco – A comunidade ajuda a explicar a força deles, os traficantes. Um outro mito que foi destruído pela minha experiência particular. Falo por mim, pelos meus mitos. Eu costumava acreditar que as quadrilhas impusessem regras que deveriam ser seguidas pela comunidade rigorosamente. Eu vi justamente o contrário disso. Presenciei muito mais gente seduzindo o tráfico do que o tráfico seduzindo as pessoas. Muita mãe batendo na boca querendo uma vaga para o filho. Menina querendo namorar com traficante. Se vê muita gente que se considera honesta e trabalhadora tendo envolvimento parcial, sem achar que está fazendo algo ilegal. Isso me impressionou muito.
EC – Isso acaba criando uma subcultura?
Caco – Exatamente. Quer ver um exemplo. Membros da comunidade, até mesmo senhoras insuspeitas, podem participar de uma operação, mediante remuneração, pois quem desconfiaria, por exemplo, de uma vendedora de cachorro-quente. Coisas assim.
EC – Cumplicidade?
Caco – Cumplicidade remunerada, né? É que na hora de falar de tráfico ninguém se considera traficante. Mas, se você vai ver direitinho, lá nos bastidores, muitos estão envolvidos, pelo menos, indiretamente.
EC – Tal situação não se deve ao fato de para eles isso já ser culturalmente aceito devido à proximidade com os que convivem com o tráfico?
Caco – Claro. Como eles também têm um passado de ilegalidade. Não de criminalidade. A maioria não tem título patrimonial dos barracos. Desde a ocupação dos morros e as derrubadas de árvores protegidas pelo Ibama e a perseguição da guarda-florestal, essas pessoas vivem em situação clandestina, à margem. Então a ilegalidade é uma coisa muito presente e até banal.
EC – Isso reforça a tese de que, onde o Estado não está presente se cria a condição ideal para a instalação do poder baseado na ilegalidade?
Caco – Mas sem dúvida. Esta é uma visão clássica e perfeitamente aplicada a essa situação de que falamos.