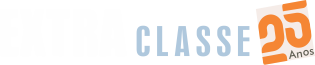No dia 31 de março de 2004, completam-se 40 anos da deposição do presidente João Goulart pelas Forças Armadas. Na história recente do Brasil, o verbete regime militar é sintético e pouco esclarecedor, como se fosse ferida não cicatrizada, que inspira cuidado e não deve ser tocada. Grande parte dos protagonistas dos chamados anos de chumbo está viva. Além disso, as versões para os fatos históricos estão impregnadas de fantasmas que rondam porões, onde circunstâncias não esclarecidas conduziram centenas de brasileiros à tortura e à morte. Os historiadores tentam decifrar a longa noite que se abateu sobre as instituições democráticas por 21 anos, com suas contradições e enigmas.
Conforme dados oficiais, 366 brasileiros morreram ou desapareceram pelas mãos das forças de segurança do Estado, enquanto durou o regime militar, de 1964 a 1985 –, embora alguns analistas situem o fim do ciclo autoritário em 1989, com a eleição direta para presidente. Milhares tiveram seus direitos políticos e civis cassados. Na frieza das estatísticas, a ditadura no Brasil foi menos feroz, comparada à verdadeira matança da população civil ocorrida em países como Argentina. Lá, entidades de direitos humanos calculam em 30 mil os mortos e desaparecidos, muitos deles jogados de aviões sem pára-quedas, mas não sem antes receber extrema unção de um padre a bordo.
“No Brasil, a repressão foi cirúrgica e seletiva, atingindo lideranças de esquerda”, diz Maria do Amparo Araújo, de 53 anos, coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais, de Pernambuco. Ela sentiu na carne a tragédia brasileira – o irmão Luís Almeida Araújo e três companheiros, Yuri Xavier Pereira, Luís José da Cunha e Thomás da Silva Meirelles Neto, estão entre as vítimas do período militar. Como eles, Amparo pertencia aos quadros da clandestina Aliança Libertadora Nacional (ALN).
Métodos de tortura já eram globalizados
O regime militar brasileiro foi pioneiro na América Latina e abriu espaço para intervenções semelhantes no Uruguai (julho de 1973), Chile (setembro de 1973) e Argentina (março de 1976). Há indícios de colaboração entre os militares do Cone Sul, atesta o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), Jair Krischke. “No Estádio Nacional de Lima, logo após o golpe de Augusto Pinochet, prisioneiros ouviram instrutores militares falando em português para orientar interrogadores chilenos”, acrescenta. Parte das técnicas de interrogatório usadas no Brasil era de inspiração francesa, provenientes da guerra da Argélia. Até a Segunda Guerra Mundial, a principal influência do Exército brasileiro era a escola militar da França.
Outra técnica era de origem inglesa, testada no combate ao grupo separatista irlandês IRA. Consistia em submeter o interrogado a temperaturas extremas de calor e frio, ou alternar luminosidade máxima com penumbra. Como se não bastasse, as paredes da sala do interrogatório se moviam em direção ao acusado. Sem falar na invenção brasileira – o pau-de-arara, onde a pessoa é pendurada de cabeça para baixo, sofrendo toda a sorte de sevícias e de agressões. “Na Argentina e no Paraguai, para onde foi exportado, ganhou o nome de periquera (referente a periquito)”, afirma Krischke.
A sedução de intervir na cena política
Desde a Proclamação da República (1889), os militares aparecem no cenário político para resolver crises emergenciais. Na primeira metade do século XX, forjou-se a idéia da instituição militar como entidade acima dos interesses em conflito de indivíduos e de grupos sociais e, ao mesmo tempo, como uma instituição nacional por natureza, capaz de entender os problemas do país. “Havia a sedução da intervenção. Não era só o desejo do homem de farda de fazer política, mas também o peso da instituição”, diz o professor Flávio Heinz, do PPG em História da Unisinos. Em 1964, ao contrário de episódios golpistas anteriores, não havia antagonismo ideológico na caserna. A preocupação com a unidade era tanta que, antes de bater em estudante, o regime expurgou os militares considerados traidores, anota Heinz.
Além disso, pela primeira vez, as Forças Armadas tinham um ideário próprio a seguir, a doutrina de Segurança Nacional. Foi criada por jovens oficiais como Golbery do Couto e Silva (considerado o principal ideólogo do regime militar), que freqüentavam, no final da década de 1950, a Escola das Américas, mantida pelas Forças Armadas norte-americanas na Zona do Canal do Panamá. A escola foi fechada em 1984 e reaberta em Fort Benning, na Geórgia (EUA). De seus bancos, surgiram líderes militares que protagonizaram golpes em diversos países, como Augusto Pinochet (Chile), Hugo Bánzer (Bolívia), Alfredo Stroessner (Paraguai), Manuel Antonio Noriega (Panamá) e Juan Velasco Alvarado (Peru), além de Leopoldo Galtieri e Roberto Viola (Argentina).
Impunidade é herança do período autoritário
Qual é o legado dos anos de chumbo? Amparo, do Tortura Nunca Mais, detecta um vácuo político: “No Congresso, temos parlamentares muito novos ou muito velhos. Uma geração intermediária de lideranças foi sacrificada, com exceções como José Dirceu e José Genoíno”. Para o cantor Nei Lisboa, que teve o irmão morto pela repressão, as estruturas de segurança do aparato estatal teriam de ser depuradas com a apuração da responsabilidade dos que participaram de torturas na prisão, mandantes ou não. “Hoje, o sangue continua sendo derramado, em violência praticada contra presos comuns e não políticos. A sensação de impunidade fez escola no período militar, dando a idéia de que determinado segmento da população pode ser executado ou torturado impunemente.”
“A herança é a instabilidade institucional do país, que persiste. Grande parte do chamado Risco Brasil se deve a ela”, afirma Hélio Contreiras, repórter da revista IstoÉ, que cobriu a área militar por 25 anos para O Globo e Estado de S. Paulo. Autor de Militares – Confissões (Editora Mauad, 1998), uma coletânea de depoimentos de oficiais que participaram do período autoritário, lançará até julho Ato 5 – A Opressão no Brasil, pela Editora Record. “Trata-se de relatos de militares cujos nomes me foram dados pessoalmente pelo ex-presidente João Figueiredo.”
Ao contrário do que se pensava, militares não encontraram resistência
Se a cúpula militar estava preparada para tomar o poder, lideranças da esquerda foram surpreendidas. No Comício da Central do Brasil (RJ), em 13 de março de 1964, o então chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Darci Ribeiro, do governo Jango, afirmou: “Se a reação ousar levantar a cabeça, nós a esmagaremos”. Não foi o que se viu. Há, sim, registros de levantes isolados de fuzileiros navais (RS) e de sargentos (DF), além do Assalto ao Tiro de Guerra de Anápolis, tomado por estudantes goianos. Para o professor Luiz Werneck Vianna, do Iuperj (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro), ocorreu um “golpe plástico”, que não suscitou resistência efetiva. Parte da culpa ele atribui à esquerda “voluntariosa”, que desejava pisar no acelerador. “O principal equívoco foi tentar converter um processo de reformas, que deveria ser lento, em movimento de ruptura política e ideológica”, diz Werneck, na época ligado ao PCB.
Mais do que a resistência pífia ao golpe, o apoio tácito e silencioso de segmentos sociais expressivos ao regime que se instaura é pouco explicitado pelos historiadores. O professor Carlos Arturi, do PPG em Ciências Políticas da UFRGS, ressalta que os militares tinham um plano estratégico de desenvolvimento para o país, fato reconhecido pelo próprio Lula durante a campanha eleitoral de 2002. “Houve uma modernização econômica gigantesca em duas décadas, menos na questão da distribuição de renda. De lá para cá, porém, não tivemos avanços significativos neste item, diga-se de passagem.” O jornalista Walter Galvani – que lançará um livro este ano contando a experiência de lidar com a censura nas redações dos jornais – lembra que algumas conquistas, como a integração do país através das telecomunicações, “visavam ao domínio completo da informação pelo aparelho do Estado”.
Arquivos inacessíveis por um século
Entre 1972 e 1974, uma área de 6.500 quilômetros quadrados, no sul do Pará, foi ocupada por 69 guerrilheiros, com adesão de 17 camponeses. A rebelião foi esmagada por ação conjunta do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal e Polícia Militar do Pará, Goiás e Maranhão. Em 30 de junho do ano passado, a juíza federal Solange Salgado, da 1a Vara Federal do Distrito Federal, determinou a quebra do sigilo de todas as informações relativas à atuação das tropas militares no Araguaia. Deu prazo de 120 dias para que a União informasse o local dos restos mortais dos guerrilheiros mortos. “A guerra é uma das mais hediondas invenções humanas, mas até ela tem regras conforme a Convenção de Genebra. Prisioneiro só tem que declarar nome e patente, não pode ser torturado. Inimigo morto em combate só é enterrado em local registrado para posterior identificação”, diz o presidente do MJDH Jair Krischke. Em 27 de agosto, o advogado geral da União, Álvaro Ribeiro da Costa, entrou com recurso anulando a decisão da juíza do DF.
A legislação que regulamenta o acesso a documentos secretos das FA foi criada por Fernando Collor de Mello. Classifica os arquivos em quatro categorias e estabelece prazos para que se tornem públicos: ultra-secretos (30 anos), secretos (20), confidenciais (10) e reservados (5). Publicado em 30 de dezembro de 2002, no apagar das luzes do governo de Fernando Henrique Cardoso, outro decreto altera o prazo dos ultra-secretos para 50 anos; secretos, 30 anos; confidenciais, 20; e reservados, 10. Além disso, o Parágrafo primeiro do Artigo 7 estabelece que, no caso dos ultra-secretos, o prazo poderá ser renovado indefinidamente, de acordo com o interesse de segurança do Estado e da sociedade.
Conclusão: os arquivos poderão ficar até um século inacessíveis. Não é de admirar que documentos da Guerra do Paraguai (1864/1870) até hoje seja secreto. “Enquanto os arquivos não forem abertos, haverá uma pedra no sapato do Brasil. O país só vai mudar e dar um salto de qualidade em sua história de civilização quando resolver o impasse. A única força revolucionária que pode mudar o mundo é a verdade”, diz Amparo, pernambucana três vezes viúva na luta política.