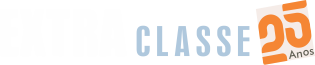Na edição anterior do Extra Classe, mostramos que os dados da criminalidade juvenil acompanham a falta de iniciativas sociais nas localidades onde ocorre o maior número de incidências. Ou seja, os locais em que faltam redes de apoio aos jovens, em geral também carentes de estruturas de educação, cultura, esporte e lazer, não-casualmente são os que mais registram ocorrências de crimes cometidos por menores. Nesta edição, aprofundaremos um pouco mais a questão, observando a importância da atuação da sociedade organizada, das instituições e dos governos (municipal, estadual e federal) na prevenção da criminalidade e na criação de perspectivas mínimas para a juventude. Infelizmente, para a sociedade, esses jovens são invisíveis e só perdem a condição de invisibilidade quando cometem crimes e passam à condição de notados, porém indesejáveis.
Por um lado, via Ministério da Justiça, o governo federal tem alardeado o PAC da segurança, ou Pronasci – Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que injetará 6,7 bilhões até 2012 e criará penitenciárias para apenados entre 18 e 29 anos. O programa pretende atingir os profissionais do sistema de segurança pública e também tem como público-alvo jovens de 15 a 29 anos à beira da criminalidade que se encontram ou já estiveram em conflito com a lei. Por outro lado, o programa federal específico já existente, voltado para atender esses mesmos jovens, parece não ter sido prioridade em 2007. De acordo com os números do Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal (SIAFI), de janeiro a agosto, o governo aplicou apenas R$ 1,3 milhão do total de R$ 24,5 milhões autorizados em orçamento para o Programa de Atendimento Socio-educativo do Adolescente em Conflito com a Lei. Isso representa apenas 5,3% do total previsto para este ano. A verba é destinada à estrutura dos locais que abrigam jovens envolvidos com a criminalidade e provêm medidas de reinserção na sociedade, como é o caso da Fase (ex-Febem), que promove o atendimento socioeducativo – aulas, cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, entre outros. Os recursos destinados ao programa são oriundos do orçamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), vinculada à Presidência da República, e do Fundo Nacional para a Criança e Adolescente (FNCA), de onde procede a maior parte: R$ 17 milhões. A parcela mais significativa é destinada justamente para a ação de apoio socioeducativo. O orçamento reserva R$ 19,8 milhões para a atividade este ano, mas até o dia 24 de agosto haviam sido pagos apenas R$ 1,2 milhão. Outros R$ 86,6 mil foram desembolsados para arcar com a construção e reforma das unidades de atendimento. O investimento em relação ao ano passado, por exemplo, é pífio. Foram investidos R$ 18,5 milhões, 15 vezes mais do que em 2007 (até agosto).(C.F)
Políticas públicas são fundamentais
A professora Carmem Craidy, coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Extensão, Educação, Exclusão e Violência Social da Faculdade de Educação da Ufrgs, não tem dúvida de que a violência se constrói dentro de uma cultura de frustração e vazio em que os jovens se sentem “invisíveis”, como disse o cientista social e antropólogo Luiz Eduardo Soares. “Agir violentamente é uma forma de buscar a visibilidade num ambiente em que eles próprios são vítimas de violência”, explica.
Quando esses jovens participam de alguma atividade em que se sentem valorizados, percebe-se uma mudança. Há uma série de programas assistenciais que propiciam o acesso dessas pessoas a roupas e alimentos, mas Carmem defende: o mais importante é oportunizar que sejam agentes e atores de sua própria vida e que possam construir algo que lhes dê significação. A professora divide os projetos com maior chance de sucesso em dois tipos: os que mexem com a criatividade, com a arte e com o belo; e os que propiciam trabalhar com uma remuneração digna, inserindo-os num mercado minimamente compensatório e não-opressivo.
Para Carmem, persiste no Brasil um grande vazio de política de juventude. “Dos cerca de 30 milhões de jovens na faixa entre 15 e 25 anos, 15% não estudam nem trabalham, e não têm lugar para estar, porque vivem em casas minúsculas, em bairros com ruelas estreitas, sem cancha para futebol – a única coisa que lhes resta é se reunir e agredir o outro”, observa. E lembra que o sistema produtivo e de trabalho no Brasil é cada vez mais perverso, absorvendo menos gente e gerando uma nova massa de desempregados. Segundo ela, a falta de perspectivas e o subemprego atingem todas as classes, mas se tornam mais graves entre os que são negros e os que vivem nas periferias.
Os programas públicos que deveriam atender essa população são insuficientes, porque há poucos técnicos e poucos recursos de abrigos e centros culturais. “Toda a área social de Porto Alegre é atendida de forma precária”, constata. Ela dá um exemplo: há um técnico para atender de 100 a 200 jovens infratores que participam dos programas socioeducativos de meio aberto, quando o recomendável é um técnico para cada 20 jovens. Nem o trabalho das organizações não-governamentais (ONGs) será suficiente para reverter esse quadro se não houver políticas públicas de cidadania e de direitos, acredita Carmem. “A ONG pode ser um apoio, porque está mais próxima da comunidade, mas sozinha não resolve”, afirma. (CG)
Uma questão de pertencimento
Veja o que pensa o juiz Leoberto Brancher, da 3ª Vara da Infância e Adolescência, sobre a problemática da violência praticada por jovens.
EC – Como fazer para resolver o problema da exposição dos jovens às situações que facilitam a violência?
Brancher – As coisas, para nós que trabalhamos com a raiz do problema, são muito claras. Mas muitas vezes a gente que é do Judiciário não tem tanta capacidade para expressar esse universo com a clareza necessária para chamar a atenção da sociedade. Talvez um grande processo de mobilização social, voltado para a solução do problema, fosse a saída. Mas não do tipo “isso é culpa do governo, do fulano, do beltrano”. É bem mais simples. A quantidade de gente no país é muito grande, o voluntariado é tímido, as políticas são ineficientes, ninguém gosta de doar nem de pagar impostos.
EC – Não há engajamento?
Brancher – O senso de pertencimento a uma ambientação pública de responsabilidade social é muito pequeno e isso está na raiz da violência. O sentido de responsabilidade social brasileiro é um tanto vazio. Isso reflete na própria família. Ninguém quer sentar na cadeirinha de pensar. Todo mundo quer entrar num jogo de desculpas e jogar a responsabilidade para o outro. Ninguém quer assumir a sua responsabilidade, mas projetá-la para o outro e isso ocorre no âmbito das instituições, que empurram o problema umas para as outras.
EC – E a legislação não tem problemas?
Brancher – Uma lacuna do estado que precisa ser preenchida para que se mude o quadro de criminalidade é que o modelo jurídico de responsabilidade juvenil no que diz respeito à violência é equivocado. O modelo do Estatuto da Criança e do Adolescente é incompleto porque ele não foi elaborado com base em uma compreensão científica do fenômeno que regula. Ele regula crime. Portanto, eu sou um juiz criminal de menores, mas porque eu me declaro assim. Sempre foi muito bacana se dizer juiz da Infância e da Juventude. Mas é diferente o que eu estou dizendo no significado funcional disso. Ora, é preciso encarar que o fenômeno é crime, Fase é cadeia e menor é punido sim.
EC – A sociedade não tem uma idéia errada sobre isso?
Brancher – Enquanto a gente não dá nome aos bois, a gente não coloca a carroça na estrada, e o que falta na lei brasileira é a clareza quanto a isso. Medida socioeducativa é medida penal juvenil. Ato infracional é crime. Fase é cadeia, mesmo trocando o nome. Ela tem uma finalidade educativa, mas não deixa de ser prisão. Se a gente não declara e não assume essa clareza, não se consegue estruturar a abordagem correta e ainda passa para a sociedade uma idéia errada de que os menores não sofrem punição. Antes de ser uma lacuna de estrutura e de gestão, é uma lacuna de concepção. Pela falta de clareza na natureza jurídica do fenômeno da violência, que é penal, acaba gerando uma disfuncionalidade na gestão porque o sistema não se organiza.
EC – E a experiência no RS?
Brancher – É possível perceber que o sistema se estabilizou de uns anos para cá, no Rio Grande do Sul. Havia muitas rebeliões e motins e um clima de perturbação sistemática que não há mais. Eram sintomas desta falta de clareza contaminando a gestão. As estruturas não tendo clareza da sua finalidade não têm também posto o que deve ser feito. Antes de se colocar um projeto na rua é preciso saber que necessidades esse projeto precisa atender. É preciso distinguir a necessidade daquele que comete um crime, daquele que embora se drogando não comete crime, daquele que embora pobre não comete crime, que embora fora da escola não comete crime. O crime é o diferencial.
EC – E a concepção de Justiça Restaurativa, que o senhor defende?
Brancher – Tudo isso tem a ver com o modelo de Justiça Institucional. O que propomos é que a sociedade se aproprie do debate a partir do modelo de Justiça. Hoje temos uma luz para lançar a partir de um novo olhar que é a Justiça Restaurativa, que propõe a desconstrução do modelo de Justiça persecutória e vingativa por um modelo responsabilizante e pedagógico, em que o conflito possa se tornar uma oportunidade de crescimento e não necessariamente uma perda, algo incurável. A Justiça tem uma função curativa.
EC – Há uma crise de valores?
Brancher – Há uma ambientação social cada vez mais propensa à dissociação com os valores, e, pior, de identificação com valores negativos promovidos pelas diferentes mídias e com modelos criminosos. Com marginal ocupando o lugar do herói (principalmente na periferia), falta de oportunidade de inserção social, falta de pertencimento na própria comunidade familiar, gerando uma necessidade interna de pertencer a um grupo. Tudo isso faz com que o jovem acabe se juntando ao grupo do crime.
EC – Mas o consumo também não influi?
Brancher – Claro que sim. Esse objeto de consumo, que pode ser um tênis, um game, um boné, é apenas uma estratégia para pertencer ao grupo dos que possuem aqueles objetos. Ou seja, a necessidade dele é de pertencimento e nesse sentido ela é legítima. Roubar o tênis é que é ilegítimo. Nessa visão, o que representa o crime nesse contexto: uma estratégia desautorizada para alcançar uma necessidade legítima. A Justiça Restaurativa tenta desconstruir essa estratégia para tentar reconstruí-la de forma legítima, por meio da proposição de uma nova estratégia para esse jovem. É preciso dar alternativa ao crime, que tanto pode passar por outro caminho para chegar ao objeto de consumo como também dar chance de satisfação afetiva que dispense o jovem de querer pertencer àquele grupo, que se identifica pelo uso daquele tênis ou revólver. É muito sutil e simples. Por trás das janelas do crime, é preciso ver as janelas da alma e estas pedem muito pouco. Mas o que se tem oferecido por aí? O que a sociedade de consumo oferece: videogame, tênis Reebok, Nike, carros velozes, I-pod, objetos simbólicos que vão ocupar esses espaços vazios da satisfação interior. Daí para o crime é muito rápido. É mais fácil conseguir uma arma do que um emprego.
EC – As instituições estão preparadas para enfrentar esse problema?
Brancher – A sociedade e a Justiça ainda não estão preparadas para enfrentar o problema em sua verdadeira dimensão e natureza. Mas não vejo isso com total desesperança, porque há um alinhamento progressivo das pessoas rumo ao enfrentamento do problema. (CF)
Não precisa ser assim
Péia começou a brincar de DJ quando morava no bairro Partenon. Da banda Anti-Genocídio passou para o Revolução RS. Ele, que nunca tinha sido de estudar, interessou-se pelo hip hop, começou a ler sobre a cultura negra e revoltou-se com o preconceito. Convidado a dar uma oficina de DJ na Febem, percebeu que podia repassar conhecimento. Entrou no curso de Ciências Sociais da Ufrgs.
Formou o grupo Educação e Luta, encampado pelo Talher – setor de educação popular do programa Fome Zero. Foi voluntário até ser contratado em 2006 e abrir a Ksulo. Interrompeu o projeto quando o contrato com o Talher acabou. Agora tenta retomar as atividades.
Os jovens da Bom Jesus entre 7 e 23 anos, que freqüentam a casa, podem optar pela oficina de break, de grafite ou de Muay Thai (mistura de box e karatê). Com a serigrafia, a Ksulo lançou a grife 470 (número do ônibus do bairro) e o concurso Garota 470, para desfilar a marca e valorizar as meninas da comunidade. Os projetos incluem ainda oficinas de segurança alimentar em creches e ajuda à reciclagem de garrafas PET feita por um morador.
“Quero ensinar as pessoas a serem multiplicadoras”, diz Cássio. O objetivo é transformar a Ksulo num ponto de cultura e implantar um centro de comunicação, já que o bairro carece de áreas de esporte ou lazer. (CG)
Projetos interrompidos facilitam criminalidade
Durante quase um ano, A., 17 anos, freqüentou a Casa Cultural Ksulo, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Aprendeu serigrafia com o DJ Péia (Cássio de Albuquerque Maffioletti) e com o ativista PX (Carlos Cristiano Gonçalves) para imprimir nas camisetas que ajudavam a garantir o sustento de todos. Com problemas na família, foi morar ali com outras cinco pessoas. A. queria aprender a dançar break nas oficinas da Ksulo. Não teve tempo.
A casa foi inaugurada em 2006 para, como o nome sugere, ser um espaço onde as pessoas pudessem criar asas. Na é poca, Péia era o único com trabalho fixo. Quando ficou desempregado, teve de cortar os custos e as oficinas. A. saiu de lá e, sem ter onde ficar, buscou conforto no crack. Em 2007, envolveu-se num assalto. Era o único menor de idade, foi preso e assumiu o crime sozinho.
Péia conta a história de A. com frustração. Acredita que, se o projeto não tivesse sido interrompido, o amigo provavelmente estaria freqüentando as
oficinas. “Cássio, tu me ergueu”, costumava dizer A. (CG)
O ambiente é que é violento
Projetos como o de Péia tendem a ter bons resultados, acredita a psicóloga e professora Neuza Guareschi, da PUCRS. Desde 2002, ela desenvolve um trabalho na Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, para mostrar que a violência não é algo natural no jovem – as condições do ambiente é que são violentas. O conceito de vulnerabilidade social é produzido por “marcas” do tipo: saíram da escola, moram na vila. Como se a vulnerabilidade fosse do indivíduo, e não um problema mais amplo, social e econômico.
A professora ressalta que, em uma condição estranha, todo mundo pode cometer violência, independentemente de classe social, raça ou gênero. Caso contrário, quem é rico ou “de bem” nunca mataria ou roubaria.
Para escapar das condições do ambiente que os levam a ser violentos, os jovens precisam ter chance de se construir como sujeitos em outro lugar, de dar significado à vida. O projeto realizado por Neuza e bolsistas, em convênio com a Prefeitura, trabalha com 20 jovens entre 15 e 18 anos de idade. O grupo de dança escolheu fazer um videoclipe. Outra turma fotografou locais, ampliou as fotos e desenhou nelas o que gostaria de mudar ou acrescentar. O resultado está exposto na comunidade e deverá gerar um livro. Mas já serviu para dar visibilidade. (CG)
Morro também é notícia boa
Há três anos, quando passou a freqüentar as oficinas do Morro da Cruz, Íris Monteiro da Silva estava desempregada. Começou no projeto fazendo tranças, hoje está nos grupos de saúde e meio ambiente. Aos 22 anos, é uma referência na comunidade porque insiste no sonho de cursar a universidade – algo que para muitos ali parecia distante.
No curso pré-vestibular, ela também dá lições: “Uma menina puxou o assunto das quotas, e o professor começou a falar sobre raça negra. Olhei em volta, era só eu negra, me senti no dever de ajudar”, conta. “Levantei o dedo e disse que já não se usa “ raça”, mas “etnia”, e que ele, como professor, devia se corrigir”.
A desenvoltura de Íris é um dos resultados do trabalho do pedagogo João Carlos Werlang, coordenador da ONG Instituto Cultura Brasil de Desenvolvimento e Arte-Educação Popular, que funciona no Morro da Cruz. Outra constatação aparece na própria mídia. À medida que as oficinas de rap, funk e grafite com os jovens ganhavam integrantes, os meios de comunicação se interessaram por suas histórias. A tal ponto que as notícias de violência, assaltos e tráfico foram diminuindo de proporção. “Atualmente, o morro aparece no jornal como uma notícia boa, positiva”, diz Werlang.
O trabalho começou no Instituto Murialdo. Divergências fizeram com que fundasse a ONG. Werlang busca recursos para construir um espaço para o cinema comunitário e promover os eventos dos cerca de 20 grupos de jovens que ajudou a formar ou acompanhou a fundação.
O projeto tem quatro eixos: cultura e arte; educação; saúde e meio ambiente; e geração de trabalho e renda. É neste último que se encaixa a grife Arrazô. As meninas do morro faziam cursos de corte e costura, mas não tinham onde praticar. Agora, quatro se reúnem na casa de Íris para transformar calças jeans antigas em bolsas. Fazem luminárias de tecido e taquara e caleidoscópios.
O trabalho com a grife poderá ser uma forma de Vanessa Dias Aresso, 19 anos, garantir o sustento da filha de 2 anos. Para Paula Abreu, 19 anos, é um trampolim para abrir o próprio salão de beleza. Pamela Suelen, 17 anos, que participa do grupo de funk, gosta da convivência com a turma aos domingos. “A idéia é que as pessoas sejam protagonistas, identifiquem seus sonhos e se organizem para realizálos”, explica Werlang. (CG)