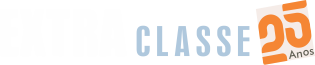As paixões de Goida
Hiron Cardoso Goidanich – A minha geração é marcada pelo livro, o cinema e o rádio. Não existia a televisão. A leitura nos levava ao cinema e o cinema nos devolvia ao rádio, no sentido de buscar outra forma de comunicação, e o rádio do final dos anos 30 e início dos anos 40 era maravilhoso. Eu lembro de ouvir a radiofonização de histórias clássicas da literatura infanto-juvenil como A volta ao mundo em 80 dias, A marca do Zorro e outras histórias. Mas nada superava a riqueza do cinema, era o espetáculo completo, porque tinha imagem e música, era o elemento cultural de ligação.
EC – Qual foi o primeiro filme?
Goida – Eu não tenho muita certeza, mas acho que foi Suez (1938), com Tyrone Power e Loretta Young, um filme sobre o Lesseps (Ferdinand de), famoso construtor do Canal de Suez. Claro, fui saber isso depois, mas eu me lembro que na época, final dos anos 30, Hollywood fazia cinebiografias romantizadas. A maioria das coisas não era como o filme mostrava, mas pelo menos a gente tomava conhecimento da história. Teve cinebiografia do Pasteur, do Mark Twain e dos músicos. Na biografia do Cole Porter com o Cary Grant no papel principal, além da história, do filme, tinham as músicas. E a gente aprendia de cabeça, mesmo tendo ouvindo uma vez. O ápice foi em 1942, quando chegou aqui Fantasia, do Walt Disney. Aquilo nos apresentou a música sinfônica. Já tinha a popular, que era maravilhosa, e agora a música clássica. Se não fosse o cinema, eu não teria todo esse conhecimento que eu tenho, de música, de compositores, essa apreciação da coisa pública.
EC – Como eram as idas ao cinema?
Goida – A gente não ia tanto quanto gostaria, mas duas vezes por semana era certo. Nós morávamos no bairro Menino Deus (em Porto Alegre) e os cinemas próximos eram o Avenida, o Garibaldi e o Cinema Castelo, dava pra ir a pé. Eu tinha um irmão, um pouco mais velho, e a gente ia com o pai e a mãe nas quartas-feiras à noite, não tinha esse negócio das crianças dormirem cedo. No domingo a programação era diferenciada, íamos sozinhos, às vezes com algum primo da nossa idade. Mas o melhor era quando vinham as tias do interior. Minha mãe era a única de 12 irmãos que morava em Porto Alegre, o resto era de Encruzilhada do Sul. Quando vinham, ficavam na nossa casa e as tias, principalmente, chegavam loucas para ver filmes. Elas iam de tarde e à noite também e a gente ia junto. Hoje é diferente.
EC – Sim, o cinema não é mais tão importante.
Goida – Eu não sou uma pessoa que vive no passado, mas o cinema mudou. Era universal, a grande distração de todo mundo, hoje não é mais. Vejo pelos meus netos, o mais novo de oito anos, Conrado, tem outras distrações, ele adora programas como Animal Planet na televisão, os documentários do Discovery. E tem os jogos de computador que disputam atenção com os livros, que ele curte, mas não lê tanto quanto poderia. (…) Eu reservava todas as tardes de sábado pra levar as minhas filhas ao cinema, a Mônica e a Ana. Elas ainda vão, gostam. Levam os meus netos, tem o Carlo, com 19 anos e também a menina, que prefere equitação e a companheira dela é a Mônica, que é zootécnica.
EC – Outra marca da tua infância foi a leitura, que também desempenhou um papel fundamental.
Goida – A minha geração teve a sorte de existir a Livraria do Globo em Porto Alegre, onde o Erico Verissimo escrevia para a infância, a juventude e os adultos. Histórias como As aventuras do avião vermelho e Rosa Maria no castelo encantado tinham personagens que abriam pra gente um mundo fantástico. Os ilustradores da Globo eram incríveis, caras como Nelson Boeira Faedrich e João Fahrion, artistas que tornavam aqueles livros verdadeiros tesouros. A minha mãe sempre comprou livros pra gente, ela era dona de casa e gostava de ler, assim como meu pai, comerciário. Lembro em 1948, quando saiu O tempo e o vento, ele foi logo comprar e eu disse: “pai, sou segundão na fila pra ler”. Eu tinha 14 anos e já estava acostumado com leitura. Mesmo que fosse um livro mais adulto, ele deixava. Não tivemos uma família repressora, minha mãe nos comprava revistas em quadrinhos.
EC – E também havia os tios.
Goida – Sim, um dos meus tios que tinha gosto pela literatura também gostava de quadrinhos. Ele comprava os livros e liberava pra gente depois de ler. E tinha um outro, irmão da minha mãe em Encruzilhada do Sul. Foi na casa dele, em 1943, que eu conheci a Revista Life, ele tinha uma biblioteca fantástica, tinha filhos e também tinha livros juvenis. Era um paraíso, um nirvana. A minha geração teve uma infância marcada pelo sonho da música e do livro em casa. Em 1939, quando comecei a ir ao cinema, casa que tivesse toca-disco era uma exceção. Enquanto não podíamos ter isso em casa, a gente se divertia com o cinema. Eu só fui ter toca-disco depois de casado, em 1961. Daí eu tocava para as minhas filhas as músicas de Pedro e o lobo e Aprendiz de feiticeiro, enquanto contava as histórias. Elas adoravam.
EC – O teu acervo de cinema é a realização daquele sonho infantil da grande biblioteca?
Goida – Sim. Nós mudamos pra essa casa em 1975, na verdade eu voltei, porque era a casa dos meus pais desde 1948. Daí transformei a garagem em biblioteca. Entre livros e álbuns são 2,7 mil volumes, além de 50 mil fotos em p&b e 1,5 mil revistas e catálogos. Não pesquiso na internet, não precisa e não tem tudo que a gente busca. A L&PM vai reeditar a Enciclopédia de quadrinhos, atualizando e complementando com novos verbetes. Estou trabalhando com André Kleinert, do Clube de Cinema, e pesquisamos no acervo de quadrinhos, que é maior, são 10 mil volumes entre álbuns, revistas e livros. É fácil de achar, tenho uma técnica muito boa de guardar recortes com curiosidades dentro dos livros. É um trabalho de pesquisa, de tempo e paciência.
EC – E quanto à vocação para o jornalismo, foi inspirada pelo teu tio, Oswaldo Goidanich, profissional importante na nossa história cultural, um dos editores do Caderno de Sábado do Correio do Povo?
Goida – Claro, ter um tio jornalista ajuda, mas o grande exemplo foi um cara chamado Clark Kent, o super-homem. Eu gostava do Clark porque usava óculos, era tímido e tinha que lutar pra conquistar a Lois Lane, que gostava do super-homem. As pessoas podem achar que sou “débil mental”, mas os heróis eram extremamente positivos, sejam os cinematográficos ou de quadrinhos. Eram um exemplo. Eu estudei no Colégio Farroupilha onde a grande maioria dos colegas pensava em engenharia, aviação, essas profissões que exigem um trabalho técnico, mas todos nós aprendíamos a escrever. Tive a sorte de ter uma professora que exigia que a gente escrevesse a resenha de um livro todas as semanas. Em 59 eu fiz vestibular para o curso de Jornalismo, prova oral e escrita. Mas só fiz o primeiro ano, porque na época existia uma falta muito grande de profissionais, tínhamos aproximadamente oito jornais diários em Porto Alegre e um semanário, a Revisa do Globo.
EC – São 50 anos de profissão, como foi o começo?
Goida – Nós tínhamos um professor que dava prática de jornalismo e nos levou para conhecer os jornais. No Jornal do Comércio, ainda quando era na Sete de Setembro, conversei com o editor e ele me perguntou se eu não queria trabalhar lá. Ao mesmo tempo eu era estagiário da Última Hora, desde maio de 59, fazia a cobertura estudantil. Mas eu dizia para o Nestor Fedrizzi, diretor de Redação, que queria ser crítico de cinema. Foi o que aconteceu quando o jornal começou a ser diário. Naquela época não existia só crítica, mas coluna de cinema, com comentários sobre atores e momentos da história do cinema e saia todos os dias. Tinha mais espaço.
EC – Quais os críticos que te inspiraram?
Goida – O Gastal (P.F.) quando começou a publicar no Correio do Povo em 1948, eu lia, minha família tinha assinatura. Outro era o José Amádio, um gaúcho que escrevia na revista O Cruzeiro, tinha uma ironia incrível, não poupava os filmes americanos. A gente gostava tanto de um cara sério como o Gastal quanto dessa ironia do Amádio.
EC – Dos críticos de Porto Alegre, a tua marca sempre foi um diálogo muito próximo com o leitor, és um crítico-cinéfilo.
Goida – No começo dos anos 60, a crítica se dividia, o Jefferson Barros e o Enéas de Souza tinham um embasamento filosófico. Eu era conhecido como “o mais velho dos novos críticos”. Eu gostava do Jerry Lewis, dos westerns e tinha aquela coisa meio “cahier du cinema” de valorizar o Hitchcock. Eu via os filmes e gostava e diziam “ah, o Goida escreve para o público”. É preciso desvincular a ideia do jornalista como um intelectual, não é isso. Quem escreve em jornal pode apresentar alguma forma de erudição, mas jamais filosofia. A minha formação cultural foi através de meios de comunicação extremamente populares, não me considero intelectual. (…) Hoje a crítica está mais sofisticada. As pessoas que escrevem sobre cinema levam a sério, Roger Lerina e Marcelo Perrone são pessoas que têm cultura e escrevem para o público em geral, mas ainda assim não vejo tratados de filosofia nessa crítica moderna.
EC – São 50 anos de casamento, como vai ser a comemoração?
Goida – A gente comemora todos os dias. Eu brinco dizendo que “os primeiros 30 anos de casamento são muito complicados, o que vem depois é bom”. Eu conheci a Daisy quando ela tinha 14 e eu 17, éramos muito companheiros e gostamos de estar juntos. Ela se formou em Assistência Social e trabalhou muitos anos no governo do Estado, por último como assessora da Evelyn Ioschpe na direção do Margs. Ela também gosta de cinema, mas temos diferenças fundamentais: ela é esportista, gosta de viajar, eu não sou muito de viajar, sou diferente nisso. Só tinha um “programa de índio” que ela não me acompanhava, de jeito nenhum. No auge da censura em Porto Alegre, entre 68 e 74, eu ia a Montevidéu umas quatro vezes por ano para ver filmes. No Uruguai sempre teve mais liberdade. Saia na sexta-feira à noite e voltava na segunda-feira de manhã e conseguia ver uns oito filmes. Isso ela não ia, era muito cansativo. Eu tinha que ir, senão ficava completamente desatualizado em termos de cinema.
EC – Ainda existe algum tipo de cinefilia similar a que marcou a tua geração?
Goida – Eu identifico com imensa alegria nos jovens do Clube de Cinema. Eles conhecem o cinema tanto quanto a gente conhecia e, mais ainda, são abertos ao conhecimento dos clássicos. Não importa se o filme é antigo, eles querem ver e usam a internet. Esses garotos que estão fazendo o Fantaspoa (V Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre), no peito e na coragem, eles tem esse gás, fazem sem nenhum apoio. Eu só fico chateado porque não posso ver todos os filmes.
Saiba mais
O cinema em Porto Alegre é indissociável da figura generosa de Goida. Nosso imaginário é marcado pela contagiante cinefilia que nos transmite, nos jornais e pessoalmente, através do convívio amistoso. Durante 36 anos foi o titular de cinema de Zero Hora, no qual ingressou quando era Última Hora. Além de ter atuado no Jornal do Comércio, foi redator na MPM Propaganda, acumulou prêmios regionais e nacionais. Esteve à frente da Comissão Organizadora do Festival de Cinema de Gramado ao longo de 29 anos, entre 1976 e 2005. Ingressou no Clube de Cinema no início dos anos 60 e desde então não se afastou. Publicou Enciclopédia dos quadrinhos (L&PM Editores, 1990), elaborou apêndice especial para a edição brasileira do Dicionário de Filmes de Georges Sadoul (L&PM Editores, 1993), atualizou e complementou mais de 600 verbetes do Dicionário de Cinema de Jean Tulard (L&PM, 1996), além de várias obras coletivas. A marca da cinefilia em seus textos está na coletânea Nas primeiras fileiras (UE, 1998), da série Escritos de Cinema da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.