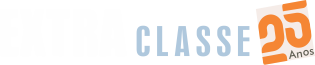Foto: Reprodução/TVGlobo
Foto: Reprodução/TVGlobo
Todas as pessoas que prestam informações privadas a jornalistas têm o direito de saber o que o entrevistador pensa sobre questões essenciais. Vale para quem concede entrevistas para a divulgação de informações ditas objetivas ou para divagar ou revelar suas posições sobre os mais variados assuntos.
A fonte privada tem, além do direito de não falar, o direito de saber com quem está falando. É uma tese que defendo há anos e que nunca irá prosperar.
O resumo é este. Se quiser, uma fonte pode, antes de qualquer conversa, questionar o jornalista, por alguns minutos, sobre temas primordiais: democracia, liberdades, direitos humanos, racismo, tortura, homofobia, xenofobia, misoginia, ambientalismo.
São questões elementares capazes de revelar posturas e condutas. A fonte privada pode querer saber com quem fala e por que aquela pessoa está ali com a intenção de divulgar o que ela irá dizer. Pode indagar, não para patrulhar posições políticas, mas para saber o que dizer, se deve dizer e em que tom.
Censura? Não. Porque alguém pode rejeitar uma entrevista a um fascista, por exemplo, ou a um admirador de torturadores, ou a um racista, mesmo que ele não explicite claramente, mas insinue o que pensa por respostas evasivas.
Esse direito não se estende a figuras públicas diante de demandas objetivas de jornalistas. Alguém em função pública não pode se negar a prestar informações de interesse de todos nem escolher a quem deve ou não prestar contas do que faz.
Mas pode se negar a emitir palpites e opiniões, em entrevistas sobre o que pensa disso ou daquilo? Pode. Uma entrevista não é um interrogatório, não é sumária, nem compulsória. O silêncio pode ser a resposta reveladora de verdades, mentiras, destemor ou acovardamentos.
Em democracias, investigados podem ficar quietos e dizer que somente falarão diante de um juiz. E muitos podem chegar diante do juiz e não dizer nada. Podem ficar mudos até o fim de um processo.
No caso do ocupante de cargo público que só fala com jornalistas amigos, a saída é denunciar eventuais restrições, perseguições políticas, patrulhas e censuras. Essa foi na ditadura uma das missões de sindicatos, OAB, UNE, Igreja e de entidades de direitos humanos, ao lado dos políticos da resistência.
Digo isso só para radicalizar sobre as posições de quem fala, ouve, vê ou lê e do seu direito de ter acesso à informação que achar necessária para a compreensão das circunstâncias, dos fatos e dos personagens.
Uma pessoa aparentemente passiva diante da TV, convidada a ter compaixão ou a exercitar algum tipo de empatia com alguém, precisa saber quem é esse alguém.
Se não tiver uma informação que considere essencial, e que não é uma informação subjetiva, e se perceber que seus sentimentos foram ludibriados, tem o direito de reagir.
Dráuzio Varella deve saber que ao levar ao público um personagem capaz de provocar comoções nunca estará agindo impunemente. A solitária presidiária transgênero Suzy, que o médico abraçou no Fantástico do dia 1º de março, está encarcerada por ter estuprado e matado um menino de nove anos. É o que se soube dias depois.
Ali naquela cena forte do abraço, depois de uma longa conversa com Suzy, ele não era apenas o médico solidário com uma pessoa infeliz, mas alguém submetido aos códigos de quem faz jornalismo ou lida com algum tipo de documentário. E o esforço de todo jornalista, por mais imperfeito que seja, é pela transparência no que é essencial, e não no que possa ser acessório.
O inverso também é complicado. Um jornalista que decidisse atuar também como médico, usando os nem sempre respeitados códigos do jornalismo (quantos já fingiram ser o que não são?), poderia cometer erros semelhantes.
Também é ingênua a posição dos que acham que a extrema direita se apropriou do assunto e que só ela deve se ocupar da controvérsia. É o contrário. O fascismo adorador de torturadores e milicianos não pode ficar falando sozinho para atacar uma figura cuja marca é o humanismo.
O que sobra do debate é que não há neutralidade nos mínimos gestos do jornalismo ou no que se assemelhar ao jornalismo. E que ninguém é obrigado a ter o alcance do desprendimento e da grandeza de um Dráuzio Varella quando ele trabalha como médico, repórter, escritor ou documentarista.
Não havia como querer ‘proteger’ a situação de Suzy num biombo, nem reduzir agora o caso a uma questão jurídica ou a um debate sobre as crueldades do cárcere.
O que importa é saber lidar com sentimentos mobilizados por informações incompletas. Com a falta de informações fundamentais, admitida por Dráuzio Varella, que já pediu desculpas à família do menino assassinado, amaram Suzy num dia e passaram a odiá-la alguns dias depois.
Há informações que não são objeto de escolhas. Não há como escondê-las de quem precisa do essencial para tomar inclusive a decisão de emocionar-se ou não diante de uma transgênero encarcerada.
O jornalismo definha se buscar a proteção das sombras. Sua missão é a de mostrar e ajudar a compreender. Existe para ver, ouvir, perceber, informar, expor, iluminar, não para esconder, sempre revelando, se possível, de que lado está. E somente irá sobreviver como jornalismo, e não como medicina, se estiver submetido ao esforço para ser transparente.
*Moisés Mendes é jornalista. Escreve quinzenalmente para o jornal Extra Classe