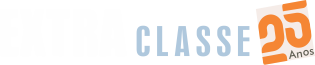Mineração e agronegócio avançam sobre comunidades indígenas do Pará

Foto: Tiago Miotto/Cimi/Divulgação
Importante fonte de alimentação dos Munduruku do Planalto, os igarapés que desaguam no lago Maicá estão ameaçados pelo desmatamento em suas cabeceiras e pela contaminação por agrotóxicos usados nas lavouras de soja
Foto: Tiago Miotto/Cimi/Divulgação
“O que estamos passando é a negação de nossos direitos. A nossa luta vem sendo cada vez mais ignorada pelo governo. Nossa vivência com o meio está sendo totalmente ignorada, pelo capitalismo, pelo agronegócio, pela exploração”, acusa uma liderança Munduruku, no Pará. Por medo de represálias, ele e outros indígenas pediram ao Extra Classe que seus nomes e localização precisa fossem preservadas. Sua fala atesta os conflitos vividos por conta dos impactos causados pela mineração e pelo agronegócio na degradação do meio ambiente e na expulsão das comunidades tradicionais de seus territórios, tudo por força de decisões administrativas tomadas à revelia das comunidades, em nome de um modelo de desenvolvimento que silencia os povos originários
Ao longo dos 15 km do Lago do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará, mais de 10 mil pessoas vivem da pesca. Só que essa modalidade econômica e cultural de relacionamento com a natureza, protagonizada especialmente por comunidades quilombolas e indígenas da região, está correndo risco. É que, embora tenham ocorrido inúmeras tentativas de embargo, segue a construção do terminal portuário de uso privado da empresa Atem’s Distribuidora de Petróleo.
Entre as obrigações não atendidas no licenciamento, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Pará (MPPA) apontam a necessidade de que, antes de emitir ou não qualquer autorização ao empreendimento, o órgão competente do governo realize consulta prévia, livre e informada aos indígenas, quilombolas e pescadores potencialmente afetados, seguindo o Protocolo de Consulta já elaborado por essas comunidades. A obrigação é estabelecida na legislação ambiental e na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).o longo dos 15 km do Lago do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará, mais de 10 mil pessoas vivem da pesca. Só que essa modalidade econômica e cultural de relacionamento com a natureza, protagonizada especialmente por comunidades quilombolas e indígenas da região, está correndo risco. É que, embora tenham ocorrido inúmeras tentativas de embargo, segue a construção do terminal portuário de uso privado da empresa Atem’s Distribuidora de Petróleo.
Sujeitos desflorestados

Foto: Igor Sperotto
Rosinha Carrion, socióloga e professora da Ufrgs
Foto: Igor Sperotto
No início de fevereiro deste ano, a socióloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Rosinha Carrion esteve em missão no oeste paraense para coletar depoimentos dos “sujeitos desflorestados” da Amazônia. Há alguns anos, ela desenvolve o projeto de pesquisa dos Sujeitos em deslocamento, que ela realiza em parceria com a colega e psicanalista Lívia Vigil. Esse estudo busca criar um espaço de fala para indivíduos deslocados de suas referências originais e submetidos a diferentes formas de violência. Sua imersão na região foi tão intensa que resultou no Diário de Campo: Grandes Empreendimentos Econômicos sob o Olhar de Humanes Desflorestados, o qual dá visibilidade aos impactos da mineração, do agronegócio (plantio da soja) e da abertura de estradas na vida das comunidades amazônicas.
Durante sua viagem, conversou com lideranças, com as quais foi foi informada de casos como a construção do porto de Maicá. Com base em tudo que ouviu e, principalmente, viu em sua missão, ela considera que tanto a causa da Amazônia como a indígena precisam urgentemente de políticos que se disponham a pressionar para que seja cumprido tudo aquilo que é constitucional, legal e jurídico. “Todos os avanços que esses povos conquistaram foram no momento que conseguiram levar lá algum deputado federal ou desembargador que se sensibilizaram. Então, o que eles mais precisam é apoio político”, assegura, lembrando que estamos em ano eleitoral. Devido às dificuldades para estabelecer contato com as lideranças quilombolas e indígenas, os depoimentos usados para a confecção da presente reportagem foram extraídos do relatório da professora Rosinha com o seu consentimento.
Extração de minério atinge o meio ambiente

Foto: Rosinha Carrion/Acervo de pesquisa/Divulgação
As máquinas que fazem a transferência da bauxita para os imensos cargueiros
Foto: Rosinha Carrion/Acervo de pesquisa/Divulgação
No estado do Pará, encontram-se as duas maiores jazidas da Região Norte do Brasil: a de Oriximiná, que lavra bauxita, com maior parte da produção destinada à exportação; e a de Serra dos Carajás, a qual aparece como uma das maiores do mundo na extração de ferro. De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), o comércio exterior da Indústria Extrativa Mineral (IEM) do Pará possui enorme importância na exportação brasileira. Enquanto a IEM nacional respondeu por US$ 28,3 bilhões das exportações em 2018, a do Pará exportou US$ 11,9 bilhões no mesmo período, correspondendo a 42,3% do total nacional.

Foto: Rosinha Carrion/ Acervo de pesquisa
Em meio ao cenário de devastação, o contraditório lema da MRN
Foto: Rosinha Carrion/ Acervo de pesquisa
Paradoxalmente à riqueza que representa para as mineradoras atuarem naquele estado, setor que corresponde a 88% das exportações paraenses, as comunidades onde essas empresas operam vivem em meio à pobreza. Segundo dados do IBGE de 2019, nos municípios de Oriximiná e Terra Santa, região visitada por Rosinha durante sua missão e onde atua a Mineração Rio do Norte (MRN), apenas 10% e 8% da população, respectivamente, estava empregada, e nos dois municípios, em 50% dos domicílios o rendimento mensal era de até meio salário mínimo por pessoa.
A extração da bauxita afeta visivelmente o meio ambiente. Rosinha comenta que, a distância, é possível avistar uma nuvem rosa que paira sobre as mineradoras. A coloração assume um tom mais avermelhado quando chega às águas de igarapés, como o de Água Fria, que banha várias comunidades, entre as quais as localizadas em Porto Trombetas. Atualmente, essas comunidades já não utilizam suas águas para plantio e consumo devido à grande incidência de casos de câncer no estômago, de diarreia e de coceiras terríveis. Há, também, a poluição sonora quando são acionados os motores para a quebra da bauxita e que, além de ruidosos, estremecem tudo ao redor.
Uma liderança quilombola em Roraima, que também não quer ser identificado, conhece bem esse tom avermelhado. Os pés inchados de sua neta de sete anos ficaram assim por ela brincar perto do Água Fria. Anos atrás, o quilombola perdeu um irmão e um tio, ambos diagnosticados com câncer. “A gente tá tendo uma mortalidade de câncer do estômago. Hoje, a água vem de Trombetas, a mineradora entendeu que a água está contaminada”, denuncia.
Outro impacto da mineração é o causado pelos navios que transportam a bauxita. “Quando o navio manobra, o banzeiro é uma violência. Já alagou canoa, cara já perdeu barco, já perdemos muita roupa e provoca erosão, vai comendo a margem do rio”, reclama. Ele se refere ao porto na região de Porto Trombetas, onde fica a sede administrativa da MRN. Toda vez que as embarcações manobram, o movimento ocasiona grandes deslocamentos de água, que avançam nas lavouras e vão lavando tudo, provocando erosão e mudando a paisagem.
“A soja ocupou os espaços da floresta”

Foto: Rosinha Carrion/ Acervo de pesquisa/ Divulgação
Plantações de soja que encostam na estrada e se estendem até a floresta. De quando em quando, há uma castanheira no meio das plantações. As castanheiras, são árvores quase sagradas para a cultura dos povos orignários. Muitas são derrubadas quando do preparo do campo para o plantio da soja e as que ficam se tornam raquíticas com frutos pequenos
Foto: Rosinha Carrion/ Acervo de pesquisa/ Divulgação
De acordo com o estudo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o Pará está entre os dez maiores exportadores de grãos do país, sendo a soja o principal produto agro exportado pelo estado. Até julho de 2020, o Pará registrou o 10º Valor de Exportação da soja em grãos, gerando US$ 656 milhões. No período de 2010/2017, a área cultivada expandiu de 85,4 mil para 500,4 mil hectares, equivalente a 30% do total da área de lavouras, sendo a de maior representatividade entre as culturas, conforme a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa).
“Quando nós chegamos aqui, era floresta mesmo. Hoje, Boa Esperança é só soja. Antigamente, era mandioca que, com o veneno da soja, acabou morrendo e aí os povos tradicionais foram embora”, descreve um indígena Munduruku, que já foi cacique em uma aldeia, mas, por questão de saúde, precisou deixar a função. Com relação à expansão do cultivo da soja, ele diz que o maior problema são as pessoas que não se identificam com os povos indígenas e vendem a terra para gente de fora. “Eu considero como grileiro, porque ele ocupa a terra, não se reconhece como índio e vende a terra para quem não é índio,” argumenta.
Segundo Rosinha, outro embate recorrente na luta pela demarcação das terras na Amazônia é a presença de grileiros. Para ilustrar as consequências com a falta total do reconhecimento e respeito às culturas dos povos tradicionais que já viviam na Amazônia muito antes daqueles que tomam posse das terras, ela cita a comunidade indígena de Cavada, onde existe uma cascata que, tradicionalmente, era frequentada para a realização de importantes rituais. Só que, atualmente, por ter sido alvo de grileiros, os indígenas só podem ingressar mediante pagamento.
Para o líder Munduruku citado no começo desta matéria, a entrada da soja impactou social e economicamente a região, “porque ela chega e traz sua carga de destruição”. Ele se refere especialmente aos prejuízos na agricultura familiar, que sofre as consequências do agrotóxico usado na soja. Para o plantio dessas vastas lavouras, é aplicado agrotóxico antes, durante e após o cultivo. Enquanto isso, o veneno se espalha nas plantações indígenas que não usam pesticida, e para onde também migram pragas, como a formiga saúva, expulsas pelo uso do agrotóxico. “As áreas próximas às lavouras de soja não produzem mais, as pragas vão lá e destroem. A soja ocupou os espaços da floresta.”
Há anos à frente de lutas pelos direitos dos povos originários e pela preservação da Amazônia, o Munduruku diz que não espera nada do governo atual: “Apenas destruição e desmando”. Sendo a demarcação das terras uma das principais reivindicações indígena e quilombola, pois somente com um território mapeado, é possível assegurar o direito à terra e denunciar o local preciso de ações, como desmatamentos, o cacique da aldeia Açaizal reclama da morosidade dos processos que são protocolados, porém não andam. “É preciso o estudo que delimite o território indígena, a demarcação oficial. A gente denuncia o desmatamento, mas não tendo a demarcação para dizer que a área é indígena, é difícil defender a terra,” sustenta Josenildo.
O Extra Classe fez contato com a MRN, que em nota da sua assessoria de imprensa preferiu não se manifestar sobre os temas tratados na matéria nem responder aos questionamentos da reportagem.
NOTA DOS EDITORES – Os nomes e a precisão geográfica dos indígenas e quilombolas cujas declarações foram usadas nesta matéria foram preservados pela reportagem, a pedido das fontes, devido às ameaças e violências que vêm ocorrendo contra os os povos originários no local e em diferentes regiões do país.