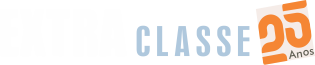Educação antirracista é pauta permanente

Foto: Igor Sperotto
Vanessa dos Santos, Ana Carolina dos Santos, Helena Meirelles, Janaína Barbosa da Silva e Cristina Centeno
Foto: Igor Sperotto
A execução da vereadora carioca Marielle Franco – negra, lésbica, socióloga formada por meio do sistema de ingresso por cotas na universidade pública, militante de esquerda, assassinada com quatro tiros na cabeça – jogou um caldo quente de indignação no acumulado de raiva e tristeza de cinco professoras pretas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, na Restinga, um dos bairros com maior população negra e parda da capital gaúcha. Completam-se dois anos neste 24 de março, quando uma reunião de pais e mestres se transformou em momento de arte e reflexão. E detonou uma sucessão interminável de criações políticas e poéticas
“A educação vinha sofrendo ataques. Os alunos estavam proibidos de repetir a merenda. Faltavam professores e muitos projetos estavam sendo extintos. Hoje, temos diariamente 30 minutos a menos de aulas”, conta a professora Janaina Barbosa da Silva. A categoria em Porto Alegre está há três anos sem reajustes salariais e reclama de mudanças prejudiciais nos planos de carreira.
Sob o olhar fixo dos pais de alunos, as professoras passeavam pela sala, declamando Ana de Cesaro: “O Rio de Janeiro chorava, mais uma mulher assassinada (…) Marielle movia estruturas. NÃO. Moveu, move e moverá (…)”. A execução tinha acontecido dez dias antes.
Naquela reunião de um sábado nasceu o Quilombelas, um coletivo que ganhou o apoio da comunidade, com uma pauta permanente de educação antirracista, que faz valer a Lei 10.639, que em 2003 tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio, mas que nunca vingou no país.
Nesse tema, se encaixam uma diversidade de assuntos e projetos, que se evidenciam inclusive pela participação da professora Helena Meireles, mulher trans. “Eu sou uma sobrevivente”, se autodefine, comparando-se a outras trans, que ela ressalta viverem na maioria em áreas de risco, prostituição e empregos informais.
“A escola é um dos primeiros lugares que a população trans abandona. A partir daí, fica muito difícil a inserção na sociedade. Por isso, do lugar onde habito, meu lugar de fala, trago essas questões para a escola. Esse debate pode ser restrito, mas acontece, na medida em que um corpo trans existe e perpassa toda a comunidade escolar. Isso atrai olhares, julgamentos, representatividades.
E é através do Quilombelas que as discussões acontecem, em parcerias com outras escolas, rodas de conversa, incentivo ao protagonismo de alunos e alunas LGBTQIs”, relata Helena.
O acolhimento salva vidas. Um exemplo que já se tornou icônico das lutas escolares delas é contado pela professora Cristina Centeno, outra das fundadoras do grupo, fonoaudióloga e pedagoga. “Também sou professora de outra escola na Restinga, e as gurias da orientação me chamaram por causa da carta de uma adolescente negra, falando como se sentia por não gostar de seu cabelo e ser rejeitada pelos meninos que gostavam das meninas brancas”.
A carta era um pedido de socorro. As Quilombelas já tinham se tornado referência, e foram chamadas para ajudarem a buscar saída. “O ambiente escolar é muito duro, e é muitas vezes onde as crianças começam a vivenciar o racismo. Propomos reunir as alunas que se autodeclarassem negras, pra conversar. Algumas pessoas não receberam bem a ideia. Por que só negras? Porque muitas vezes a gente precisa conversar entre nós. Têm dores que são ditas somente entre pessoas que sentem essa dor”, relata Cris Centeno.
A menina que escrevera a carta estava nessa roda de conversa, que teve também a presença das GPs, as Garotas Pretas, cantoras que já tinham protagonismo na Alberto Pasqualini.
Daí nasceria outro coletivo, o Projeto Dandaras, que logo saiu criando estampas, camisetas, eventos de moda, beleza, textos, música, história, cultura ancestral, no clima da filosofia praticada pelas Quilombelas, que têm lutas muito próprias no Mulherismo Africana, assim mesmo no feminino, um movimento de mulheres negras que vai além do feminismo branco, por não se sentirem contempladas integralmente, pois elas têm questões mais abrangentes, que envolvem os homens negros em resistências comunitárias centenárias.
“O Quilombelas é um espaço de dizer, uma brecha, uma rachadura que cria condições pra algo acontecer”, compara a professora especializada em Psicologia Vanessa Felix, que também faz parte do grupo. “Duas pessoas numa parada de ônibus não formam um coletivo. Mas quando passam a conversar sobre a demora do ônibus e o descaso das autoridades, elas formam um coletivo”, explica.
Assim, se tecem conexões como o Olukoni, a rede de professoras pretas da Restinga, que não por coincidência têm tantas profissionais negras direcionadas pelo poder público para o bairro. “O que seria para excluir, nos fortaleceu. Se estivéssemos sozinhas, estaríamos cada vez mais silenciadas. Somos um grupo que quer falar sobre educação, sobre formação de professores e afirmar sua identidade dentro do espaço escolar”, relata Janaina.
O coletivo já realizou ações com mais de 400 pessoas, envolvendo religiosidade, gênero, sexualidade, oficinas de penteados, brincadeiras africanas, referências ancestrais, comidas de terreiro. A poesia slam, batalha de versos própria das periferias, emociona e forma cidadãos conscientes de sua cultura.
O 20 de setembro é trabalhado em aula, com trajes africanos e encenações sobre o massacre dos lanceiros negros, dizimados por traição do general David Canabarro na Revolução Farroupilha.
A educação antirracista perpassa o ensino fundamental e EJA (educação de jovens e adultos) integrando crianças, pais, servidores, adolescentes, e com instâncias especiais, como é o trabalho da professora Ana Carolina dos Santos, que tem como missão a inclusão de meninos e meninas com algum tipo de deficiência, em atividades como a Oficina de Abayomis, que são bonecas símbolos de resistência e de poder feminino.
“Uma escola municipal numa periferia, como a Restinga, é muito mais do que uma escola. É um resgate de vida, projeto de futuro para muitas crianças sem oportunidade, e que têm a escola como creche, restaurante, lugar de despertar. E para que isso aconteça, nós professores temos o papel de fazer o elo com a comunidade. E quando digo comunidade, não é só a família, mas o comércio, os pontos de cultura, as casas de terreiro”, afirma Helena Meireles. “O Quilombelas nos recoloca, nos reconstitui. O assassinato de Marielle foi um plantio, e nós somos sementes”, ressalta a professora preta trans.